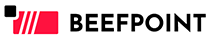Embrapa tem novo presidente
20 de janeiro de 2005Sisbov opcional divide setor produtivo
24 de janeiro de 2005O porquê da utilização tímida da silagem de leguminosas
Por Lucas José Mari1 e Luiz Gustavo Nussio2
1. Introdução
Plantas leguminosas têm importante participação na alimentação animal em virtude de se tratar de importante fonte de proteína. Leucena, trevos branco e vermelho, alfafa, estilosantes, siratro e mais recentemente soja, são as culturas mais comuns para ensilagem de leguminosas.
Até recentemente, as leguminosas eram tidas como não indicadas para ensilagem por sua fermentação predominantemente realizada por Clostrídios, levando a uma silagem com alto teor de ácido butírico. Isso é atribuído a três fatores: o alto poder tampão (PT), o baixo teor de carboidratos solúveis em água (CS) e, finalmente, o baixo teor de matéria seca (MS).
Esses três parâmetros são responsáveis, segundo Weissbach & Honig citados por Oude Elferink et al. (2000), pela capacidade fermentativa (CF) de uma cultura, sendo diretamente proporcional aos teores de matéria seca e de carboidratos solúveis, e inversamente proporcional ao poder tampão, como mostra a equação abaixo:

CF = capacidade fermentativa;
MS = teor de matéria seca (%);
CS = teor de carboidratos solúveis (% MS);
PT = poder tampão (emg 100 g MS-1).
Pragmaticamente, se analisados apenas esses fatores, as leguminosas, em geral, não seriam indicadas à ensilagem, mas com certos controles da fermentação podem se mostrar como interessantes para a conservação e alimentação de bovinos.
2. Parâmetros fermentativos e químicos inerentes às leguminosas
O elevado poder tampão das leguminosas, quando comparadas às gramíneas, está mostrado na Tabela 1.
Tabela 1 – Poder tampão (mE kg-1 MS) de espécies de forragens.

A diferença do poder tampão é devida, principalmente, ao alto teor de ácidos orgânicos fracos, que em certas leguminosas superam os 10%, como no caso da alfafa (Fauconneau, 1958). De acordo com Playne & McDonald (1966), os principais ácidos orgânicos de leguminosas são: málico, cítrico, quínico, malônico e glicérico. Ainda segundo esses autores o ácido glicérico parece ser particularmente importante no trevo vermelho. Embora os ácidos orgânicos das plantas e seus sais sejam considerados as principais causas do alto poder tampão de leguminosas, o alto teor de proteína bruta dessas culturas também tem papel importante nessa propriedade.
Em virtude do principal polissacarídeo das leguminosas ser o amido, e este não sendo solúvel em água, não se torna disponível como substrato para a maioria das bactérias láticas. Os principais açúcares responsáveis pela fração CS nas leguminosas são frutose, glicose e sacarose (Raguse & Smith, 1966), embora certa quantidade de rafinose e estaquiose também seja encontrada (Hirst et al., 1959). Tendo em vista o avanço da maturidade da cultura, é notado, normalmente, que as leguminosas apresentam teores mais constantes de CS se comparadas às gramíneas, embora sempre mais baixos. Entretanto, McDonald et al., 1991 observaram decréscimos nos teores de CS com o atraso na colheita de seis cultivares de trevo vermelho (Tabela 2). Esse efeito também foi observado por Raguse & Smith (1966), tanto na alfafa quanto no trevo vermelho (Tabela 3).
Tabela 2 – Teores de MS e CS de seis cultivares de trevo vermelho (Trifolium pratense) colhidos em dois estádios de maturidade.

Tabela 3 – Teores de carboidratos (% MS) de alfafa e trevo vermelho colhidos em diferentes estádios de crescimento.

Como média de produção e de composição química da silagem de soja Keplin (2004) atribui os seguintes valores:
- Produção de massa verde (t há-1): 30
- Teor de MS (%): 31
- Proteína bruta (% MS): 17-18
- Extrato etéreo (% MS): 7-8
- FDN (%MS): 41
- FDA (% MS): 32
3. Aditivos utilizados na ensilagem de leguminosas
Em virtude de ser uma forragem de conservação mais difícil, é interessante que se utilize aditivos que possam ajudar e/ou melhorar o processo fermentativo.
Em se tratando da ensilagem de leguminosas, um dos tipos mais interessantes de aditivos são as fontes de carboidratos, que são materiais adicionados à forragem para aumentar o suprimento de energia para o crescimento de bactérias ácido láticas. As fontes mais comuns são: açúcares, melaço, alguns tipos de cereais e polpa de citros.
De acordo com McDonald et al. (1991) a adição de glicose à alfafa no momento da ensilagem pode levar à redução da proteólise e melhorar a estabilidade de certos aminoácidos. Todavia esse efeito não foi observado por Seale et al. (1986) que inocularam alfafa para ensilagem com bactérias láticas e adicionaram fontes de glicose e frutose (Tabela 4).
Tabela 4 – Composição da silagem de alfafa inoculada com bactérias ácido láticas e adicionada de glicose e frutose.

Na prática, fontes de sacarose, glicose e frutose não são utilizadas por conta do alto custo quando comparadas ao melaço. Essa fonte de carboidrato é o sub-produto da indústria canavieira e possui teor de MS entre 70 e 75%, sendo o teor de CS correspondente a 65% da MS e a sacarose sua principal componente (McDonald et al., 1991). A ação da adição de melaço à silagem de alfafa foi demonstrada por Carpintero et al. (1969) e está sumarizada na Tabela 5.
Tabela 5 – Efeito da adição de melaço à alfafa no momento da ensilagem.

Os cereais como fontes de carboidratos têm pouca função, se levado em conta a utilização destes como substrato para BAL, pois o principal componente é amido e este não é utilizado pelas bactérias láticas, a menos que seja incorporada um fonte de amilase ou materiais ricos em amilase, como o malte.
A inoculação bacteriana de silagens de leguminosas tem mostrado efeitos inconsistentes, apresentando resultados interessantes para alguns parâmetros e nem tão interessantes para outros. Os resultados podem ser observados nas Tabelas 6 e 7, de trabalhos de Fraser et al. (2001a e 2001b), respectivamente.
Tabela 6 – Efeito da idade à colheita e inoculação sobre a composição química e perda de MS de silagens de Brassica oleracea.

Pelos resultados da Tabela 6 nota-se que a inoculação não foi efetiva em ambas datas de ensilagem de Brassica oleracea, provavelmente devido a teores de CS insuficientes para viabilizar a melhor fermentação. Entretanto, o elevado teor de ácido lático pode ser oriundo de outros substratos de carboidratos que foram utilizados para a fermentação. Os elevados níveis de amônia e ácido acético sugerem ter havido fermentação indesejável.
Tabela 7 – Comparação de silagens de ervilha e feijão forrageiro após 90 dias de fermentação.

4. Considerações sobre o uso tímido da silagem de leguminosas
Com relação ao processo fermentativo, há necessidade do controle dos parâmetros responsáveis pelo processo em si como: poder tampão, CS e teor de MS.
As silagens de leguminosas podem parecer interessantes do ponto de vista dos elevados teores de PB, mas é necessário o estudo do catabolismo protéico dessa forragem durante o processo fermentativo. Além disso, se levado em conta o custo do nutriente de silagens pode-se notar que o custo do kg de proteína bruta (PB) de uma cultura ensilada de leguminosa é maior que o de uma gramínea, seja ela o milho ou capins tropicais. O principal fator para esse alto custo é a baixa produção de MS por área de culturas leguminosas. Por exemplo, um talhão de leucena (Leucaena leucocephala), que é uma das leguminosas mais produtivas pode produzir cerca de 8 t ha-1 ano-1, com cerca de 15% de PB, totalizando 120 kg de PB ha-1 ano-1. Um capim do gênero Panicum facilmente chega a produzir 20 t ha-1 ano-1, com cerca de 10% de PB, totalizando 200 kg de PB ha-1 ano-1. Assim assumindo-se que os custos de formação, tratos culturais etc sejam os mesmos, as culturas de gramíneas tornam-se mais atrativas para ensilagem.
Outro fator que dificulta a ensilagem de leguminosas fica por conta do maquinário de colheita. Se mesmo para gramíneas há dificuldade de maquinários que consigam eficiência de corte e autonomia, o que esperar de máquinas que colham leguminosas? As leguminosas arbustivas, como leucena e o próprio estilosantes (Stylosanthes guyanensis), não podem ser colhidas por máquinas em virtude dos talos serem resistentes. Mesmo que sejam leguminosas rasteiras, como o amendoim forrageiro (Arachis pintoi) ou o Lab-lab (Dolichos lab-lab), a colhedora deve ser eficiente para que sejam colhidas as folhas, pois a perda em valor nutritivo de leguminosas com as perdas das folhas é muito maior se o mesmo ocorrer com gramíneas.
Os aditivos bacterianos utilizados na ensilagem de leguminosas têm demonstrado efeitos inconsistentes, sendo benéficos em alguns parâmetros e sem efeito em outros.
5. Quando seria possível a ensilagem de leguminosas?
A ensilagem de leguminosas seria possível/interessante em situações em que a consorciação é necessária. Quando há necessidade de se manter a sustentabilidade do sistema de produção, quando não é possível a formação de novas áreas para agricultura ou mesmo em sistemas de produção orgânica, que ultimamente têm sido procurados.
Também quando a área em que se procura colher ou tem necessidade de se colher é um banco de proteína e utilizado para pastejo por determinado período.
Referências bibliográficas
CARPINTERO, M.C.; HOLDING, A.J.; McDONALD, P. Fermentation studies on lucerne. Journal of the Science of Food and Agriculture, v.20, n.11, p.677-681, 1969.
FAUCONNEAU, G. Les acides organiques des plantes fourragères. Annals of Agronomy, Supplement A, n.1, p.1-13, 1958.
FRASER, M.D.; WINTERS, A.; FYCHAN, R.; DAVIES, D.R.; JONES, R. The effect of harvest date and inoculation on the yield, fermentation characteristics and feeding value of kale silage. Grass and Forage Science, v.56, p.151-161, 2001a.
FRASER, M.D.; FYCHAN, R.; JONES, R. The effect of harvest date and inoculation on the yield, fermentation characteristics and feeding value of forage pea and field bean silages. Grass and Forage Science, v.56, p.218-230, 2001b.
HIRST, E.L.; MACKENZIE, D.J.; WYLAN, C.B. Analytical studies on the carbohydrates of grasses and clovers. IX – Changes in carbohydrates composition during the growth of Lucerne. Jouranl of the Science of Food and Agriculture, v.10, p.19-26, 1959.
KEPLIN, L.A.S. Silagem de soja: uma opção para ser usada na nutrição animal. In: SIMPÓSIO SOBRE PRODUÇÃO E UTILIZAÇÃO DE FORRAGENS CONSERVADAS, 2., Maringá, 2004. Anais. Maringá: UEM, 2004. p.161-171.
McDONALD, P.J.; HENDERSON, A.R.; HERON, S.J.E. The biochemistry of silage. 2.ed. Mallow: Chalcombe Publications, 1991. 340p.
OUDE ELFERINK, S.J.W.H.; DRIEHUIS, F.; GOTTSCHAL, J.C. et al. Silage fermentation processes and their manipulation. In: FAO ELETRONIC CONFERENCE ON TROPICAL SILAGE, Rome, 1999. Silage making in the tropics with emphasis on smallholders; proceedings. Rome: FAO, 2000. p.17-30.
PLAYNE, M.J.; MCDONALD, P. The buffering constituents of herbage and of silage. Journal of the Science of Food and Agriculture, v.17, n.6, p.264-268, 1966.
RAGUSE, C.A.; SMITH, D. Some nonstructural carbohydrates in forage legume herbage. Journal of Agricultural Food Chemistry, v.14, p.423-426, 1966.
SEALE, D.R.; HENDERSON, A.R.; PETTERSON, K.O.; LOWE, J.F. The effect of addition of sugar and inoculation with two commercial inoculants on the fermentation of Lucerne silage. Grass and Forage Science, v.41, p.61-70, 1986.
WILKINSON, J.M. The ensiling of forage maize: effects o composition and nutritive value. In: BUNTING, E.S; PAIN, B.E.; PHIPPS, R.H.; WILKINSON, J.M.; GUNN, R.E. Forage maize. London: Agricultural Research Council, 1978. 346p.
__________________________________________________
1Médico Veterinário, Mestre, Doutorando em “Ciência Animal e Pastagens” – USP/ESALQ.
2Professor Associado do Departamento de Zootecnia – USP/ESALQ – Piracicaba, SP.