Embargo está superado, diz Pratini
13 de março de 2001Roberto Carvalheiro – Contribuição do melhoramento genético para a pecuária de cria
13 de março de 2001A conservação da cana-de-açúcar na forma de SACHARINA -parte1/3
A prática de conservação de forragens sob a forma de silagem é uma das mais difundidas e seu uso tem sido crescente. A medida que a exploração pecuária se torna mais tecnificada, a procura de melhores índices zootécnicos e rentabilidade econômica tem levado um grande número de criadores de gado de leite e de corte em confinamento a adotarem sistematicamente esta prática.
Diversas culturas podem ser utilizadas para esse fim, mas milho e sorgo parecem ser as mais viáveis. O milho e o sorgo são culturas mais adaptadas ao processo de ensilagem por sua facilidade de cultivo, altos rendimentos e especialmente pela qualidade da silagem produzida sem uso de aditivos ou pré-murchamento, proporcionando a obtenção de excelente desempenho dos animais, porém o girassol tem se tornado uma alternativa interessante. Contudo, o capim elefante e a cana-de-açúcar têm um potencial de produção por área insuperável, o que torna interessantíssimo o sistema que utiliza o capim como recurso forrageiro no verão e a cana-de-açúcar como suplemento alimentar para o período crítico de seca e inverno, quando o capim praticamente paralisa seu crescimento. O uso desse sistema permite que propriedades de qualquer tamanho ou nível tecnológico, que não possuam muitos equipamentos, possam iniciar o seu “PROJETO DE TECNIFICAÇÃO”, mobilizando recursos financeiros para fatores produtivos, que com certeza refletirão sobre ganhos produtivos e reprodutivos.
A cana-de-açúcar é uma cultura que ocupa grandes áreas no Brasil e está distribuída em todas as regiões mais quentes, está presente em praticamente todas as propriedades, e pode ser utilizada como recurso alimentar na época de seca pela fato de atingir sua manutenção fisiológica neste período, diferentemente das demais gramíneas forrageiras. Como características negativas podemos citar seu baixo teor protéico, tornando necessário sua suplementação, sendo a uréia uma alternativa bastante indicada.
SACHARINA
Uma das formas de uso de cana-de-açúcar é a SACHARINA, termo em espanhol que representa um alimento energético-protéico que baseia-se na fermentação da cana-de-açúcar em estado sólido, onde ocorre uma diminuição dos carboidratos solúveis e a transformação do nitrogênio não protéico, no caso o da uréia, em nitrogênio protéico. Os microorganismos responsáveis por esta fermentação são as leveduras, principalmente do gênero Candida e Saccharomyces, e as bactérias dos gêneros Micrococus, Staphylococcus, Bacillus, Corynebacterium, Kurthia, Acinetobacter, Enterobacter, Klebsiella e Serratia. Observou-se que a fermentação da cana picada por 24 horas, com a adição de 1,5% de uréia na matéria original, aumentou seu teor de nitrogênio (N) de 0,16% para 0,45%, sendo que a porcentagem de N protéico (NP) aumentou de 36,4%, na testemunha sem uréia, para 88% com inclusão de uréia. Isso significa que a adição de uréia aumentou o teor de nitrogênio e a fermentação o nitrogênio protéico (proteína microbiana).
A composição químico-bromatológica da sacharina parece ser variável, sendo que a distribuição da fração nitrogenada é a mais afetada, pois fatores climáticos, tempo de armazenamento da cana antes de ser fermentada e outros interferem na bioconversão do nitrogênio. A composição média da sacharina em Cuba, segundo ELIAS e colaboradores (1990), coletada em vários lugares e épocas do ano está apresentada na Tabela 1.
Tabela 1 – Composição média da sacharina em Cuba.

Conclui-se que tal produto possui características fibrosas, com elevado teor de carboidratos solúveis e alto teor de N, sendo variável a porção desse na forma protéica. Assim a sacharina parece ser apropriada para ser utilizada na alimentação de ruminantes.
Através de um convênio entre a Secretaria de Agricultura / CPA do Estado de São Paaulo e o governo de Cuba, foram feitos os primeiros trabalhos no Brasil, à partir de 1991 pelo Instituto de Zootecnia / SAA, sob coordenação dos pesquisadores Paulo Roberto Leme e João José A. de A. Demarchi, os quais enfocaram inicialmente o uso deste produto na forma seca e moída, substituindo concentrados a base de milho, farelo de algodão e farelo de soja.
PROCESSO DE OBTENÇÃO
A – SACHARINA
1. A cana-de-açúcar deve ser colhida em colhedoras de forragens (cana integral) ou manualmente, com despalha no campo e picagem em equipamento estacionário na área de processamento ou manuseio. As maiores partículas devem ter tamanho máximo de 1 cm, bem picadas mas nunca desfibradas.
2. A cana é picada é então distribuída finamente (5 a 10 cm) em área de piso revestido (asfalto, concreto ou tijolo), coberta ou não. Evitar sempre que possível o uso de pisos sem revestimento pela possibilidade de contaminação com terra e patógenos e de galpões fechados que dificultem a ventilação e a insolação.
3. Para cada tonelada de cana, prepara-se uma mistura com 15 kg de uréia, 5 kg de mistura mineral e 2 kg de sulfato de amônio.
4. Essa mistura do item 3 deve ser muito bem distribuída sobre a cana para evitar desuniformidade da uréia e conseqüentemente maiores perdas e riscos de intoxicação.
5. Misturar a cana com os minerais, executando-se essa tarefa de modo manual ou com uso de enxadas rotativas. Caso opte-se pelo uso mecanizado deve-se no item 2 dar preferência a formação de leiras que tenham largura da base e altura compatíveis com o tamanho do implemento utilizado, ao invés de uma camada fina como proposto. Depois de efetuada a mistura manter o produto distribuído numa camada uniforme de 20 a 25 cm de altura. Essa camada mais grossa permitirá um ambiente mais favorável para a composição do produto final.
6. O processo deve ser iniciado preferencialmente no período da manhã, não necessitando de mais nenhuma movimentação ou mistura durante a primeira fase do processo, denominada de “FERMENTAÇÃO”. A cana mais os ingredientes devem ser deixados fermentar durante 24 horas (máximo de 48 h). Cuidado para que o produto não tome chuva, por que da mesma forma que o feno, ou até de forma mais intensa, ocorrerão perdas acentuadas dos compostos nutritivos.
7. Durante o período noturno, caso haja riscos de chuva ou temperaturas muito baixas, inclusive geadas ou orvalho intenso, a cana pode ser enleirada e coberta com lona plástica. Temperaturas muito baixas paralisam o processo. O ideal é que esta cobertura não fique em contato direto com o produto para evitar reações indesejáveis e perda de uréia na forma de amônia.
8. Após 24 h de fermentação o produto já pode ser fornecido ainda úmido aos animais, caso haja necessidade e ou interesse em usá-lo desta forma. Não há nenhum inconveniente nisso. Caso contrário pode-se iniciar o processo de desidratação ou segunda fase, denominada “SECAGEM”.
9. Da mesma forma que na fenação, o objetivo é a desidratação do produto (10 – 15% de umidade máxima) para podermos armazená-lo sem perda de qualidade ou crescimento de fungos. Durante esta fase, que dependendo das condições climáticas (temperatura, insolação, ventos e umidade relativa do ar), pode levar de 24 a 72 horas, deve-se tomar o cuidado de não permitir que o produto fique descoberto durante a noite para evitar rehidratação. A cana é bastante higroscópica.
10. O material seco pode ser fornecido aos animais ou armazenado à granel ou ensacado. Conserva-se muito bem por períodos de até 6 meses, caso este esteja protegido da umidade e de roedores, que gostam do produto para fazer ninho.
B – CANA-DE-AÇÚCAR + URÉIA + MINERAIS
1. O mesmo descrito para Sacharina, porém sem a fermentação.
Comentário BeefPoint: Misto de silagem e feno, a sacharina pode se tornar uma alternativa interessante, principalmente para pequenos e médios proprietários interessados em melhorar o desempenho de sua atividade pecuária. Contudo, como qualquer novidade, precisa ser sempre avaliada com bastante cuidado para verificar se esta se aplica ao seu sistema. Cada propriedade possui características próprias, tal como os seres humanos. A disponibilidade da cana, de terreiros de café sub-utilizados, de mão-de-obra, equipamentos, galpões, etc. podem ser decisivos para viabilizar os uso desta técnica. Rebanhos leiteiros ou de corte que apresentem dietas com deficiência protéica e ou mineral com certeza serão beneficiados. A possibilidade de armazenamento também pode ser um fator importante na utilização ou não desta técnica.
Fonte: DEMARCHI, J.J.A.A. e LEME, P.R. O uso da sacharina na alimentação de ruminantes. Revista dos Criadores, n° 796, p. 14-17, maio, 1996.
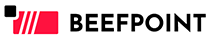

1 Comment
eu uso a sacharina a mais de 10 anos e realmente ela no meu casa fez e continua fazendo muito sucesso. tenho guardado por períodos longos e tudo indica que não perde a qualidade, costumo dizer às pessoas que é o milagre cubano que faz a diferença.
Só que pela experiência que obtive nesses anos, posso afirmar que o brasileiro nunca terá paciência e persistência para a produzir a sacharina que requer muito habilidade e carinho na sua produção. espero que alguma indústria possa modernizar principalmente a fase da secagem, e aí seria possível o consumo em larga escala, visando o custo benefício.