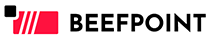Expogrande prevê crescimento de 15% em animais leiloados na edição 2004
25 de março de 2004O uso da ultra-sonografia na avaliação de carcaças em gado de corte – pontos de avaliação
25 de março de 2004As frações nitrogenadas e o balanceamento de rações utilizando forragens conservadas
Em muitas regiões, os volumosos conservados (silagem e feno) representam a base da alimentação de ruminantes, sendo que o valor alimentício desses é determinado principalmente pela inter-relação entre ingestão e digestibilidade. A menor ingestão desses volumosos pode ser resultado de uma baixa aceitabilidade, reduzida taxa de passagem pelo rúmen e desbalanceamento no suprimento de nitrogênio e de energia no ambiente ruminal para a efetiva síntese de proteína microbiana. Portanto, quando a atenção é direcionada para o processo de ensilagem ou fenação, tem-se como objetivo melhorar as características do processo de conservação, visando não só diminuir as perdas, mas também obter um produto de valor nutritivo elevado que permita maior ingestão de matéria seca e conseqüente desempenho animal favorável.
A conservação de forragens é caracterizada por apresentar um estado de constantes mudanças químicas e bioquímicas. Desde o momento do corte, mudanças microbiológicas e químicas resultam em silagens e fenos de diferentes categorias, alterando o valor nutritivo, quando comparadas com a forragem original. Conseqüentemente, é difícil oferecer aos animais volumosos conservados com a mesma composição, principalmente no caso de forragens conservadas na forma de silagem.
Em forragens frescas, 75 a 90% do total do nitrogênio presente está na forma de proteínas, o restante é encontrado principalmente como peptídeos, aminoácidos livres, aminas, nucleotídeos, clorofila e nitratos. A alta proporção de N protéico é derivada de enzimas localizadas no cloroplasto, particularmente da abundância de ribulose 1, 5 carboxilase. A fermentação dentro do silo causa uma série de mudanças na composição química da forragem, principalmente nas frações nitrogenadas, pois durante a respiração (primeiras horas após a ensilagem) e início do processo fermentativo, muitas células das plantas podem romper-se e liberar enzimas, incluindo as proteases.
As enzimas proteolíticas das plantas podem reduzir a qualidade da forragem pela hidrólise das proteínas, com conseqüente aumento do NNP (aminoácidos livres, aminas e peptídeos). Pesquisas demonstraram que uma ação prolongada das enzimas pode elevar os teores de nitrogênio solúvel para mais de 50% em relação ao nitrogênio total. Além desse fato, a degradação da PB também pode ser causada pela atividade microbiana (bactérias gênero Clostridium), produzindo amônia e aminas e aumentando dessa maneira a presença de nitrogênio solúvel no alimento, como pode ser observado na Tabela 1.

O aumento nos teores de amônia ruminal é muitas vezes indicado como a principal responsável pela menor ingestão da silagem, mas a solubilidade da proteína pode ser o maior agente causal, resultando na produção de amônia. O excesso de nitrogênio solúvel é o principal fator responsável pela redução de eficiência de utilização de proteína da silagem. Como parte da fração nitrogenada é degradada a frações solúveis, rapidamente degradadas no rúmen, ocorre baixa eficiência de síntese de proteína microbiana em relação a dietas contendo forragens frescas ou feno, o que resulta em menor fluxo pós-ruminal de proteína microbiana (Givens & Rulquin, 2002; Nussio et al., 2003). Segundo Givens & Rulquin (2002) a eficiente síntese de proteína microbiana em animais alimentados com silagens de alta qualidade deve estar entre 30-45 g N microbiano/kg de matéria orgânica aparentemente degradada no rúmen (MOADR). Dietas baseadas em silagens de milho apresentaram valores médios de síntese de proteína da ordem de 48,4 g N microbiano/ MOADR (86 observações) e para as silagens de gramíneas este valor foi de 30,1 g N microbiano/ MOADR (17 observações), mostrando que a eficiência na utilização do N varia de acordo com as culturas, devido as suas particularidades durante o processo fermentativo.
A atuação de bactérias proteolíticas também tem demonstrado que a fração protéica B3 (proposta pelo modelo de Cornell) pode sofrer desaparecimento durante o processo de ensilagem, possivelmente devido a hidrólise ácida e enzimática da parede celular (Figura 1), e está correlacionada com a elevação do teor de amônia.
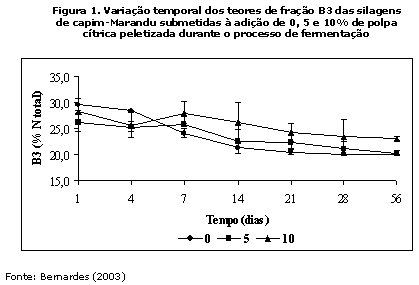
O que também se torna relevante é a perda seletiva de aminoácidos durante a ensilagem, decorrente de proteólise e deaminação, formando as poliaminas. Pesquisas com silagens de milho, sorgo, alfafa e trigo demonstraram as alterações que ocorrem no perfil de aminoácidos e verificaram aumento nas concentrações das poliaminas putrescina, cadaverina e espermidina e decréscimo nas concentrações dos aminoácidos: arginina, lisina e metionina, respectivamente. Daí a necessidade do uso de suplementos protéicos que venham colaborar para a oferta de nitrogênio tanto para o microrganismos ruminais como para o animal. Givens & Rulquin (2002) relataram que a suplementação com aminoácidos protegidos para vacas em lactação, resultou em respostas positivas na qualidade da proteína do leite, basicamente para os teores de metionina e lisina, demonstrando que a inclusão de aminoácidos na dieta de forma individual se torna mais importante que o total de N fornecido na dieta. Tal fato é devido à extensiva degradação dentro do silo e no rúmen que a proteína e os aminoácidos da silagem podem sofrer, reduzindo assim a absorção de aminoácidos no intestino.
Em relação à produção de feno, as modificações na proteína ocorrem principalmente durante o período de secagem no campo e no armazenamento. O processo de secagem resulta em aumento de NNP devido à hidrólise enzimática, semelhante ao que ocorre durante o processo de ensilagem, pois as enzimas hidrolíticas e respiratórias presentes nas células das plantas continuam ativas até que condições letais ocorram, ou seja, quando o teor de água da planta atinge valores abaixo de 35 a 40%.
As principais causas de perdas no armazenamento de fenos com alto conteúdo de água estão relacionadas com a continuação da respiração celular, e ao desenvolvimento de bactérias, fungos e leveduras. Em função da respiração celular e do crescimento de microrganismos, tem-se a utilização de carboidratos solúveis, compostos nitrogenados, vitaminas e minerais. Desta forma, há diminuição no conteúdo celular e aumento percentual na porção referente aos constituintes da parede celular, o que resulta em diminuição do valor nutritivo. Deve-se considerar, que a intensa atividade de microrganismos promove aumento na temperatura do feno, podendo-se registrar valores acima de 65oC e até combustão espontânea. Condições de alta umidade e temperaturas acima de 55oC são favoráveis a ocorrência de reações não enzimáticas entre os carboidratos solúveis e grupos aminas dos aminoácidos, resultando em compostos denominados produtos de reação de Maillard.
A formação de produtos de Maillard em fenos superaquecidos promove diminuição acentuada na digestibilidade da proteína (Tabela 2), uma vez que se pode observar aumento considerável nos teores de nitrogênio ligado a parede celular (NIDA), o qual não é disponível para os microrganismos do rúmen. Portanto, o aumento de NIDA ocorre com o decréscimo de proteína solúvel (frações B1 e B2) e elevação na quantidade de proteína alterada pelo calor (fração C).
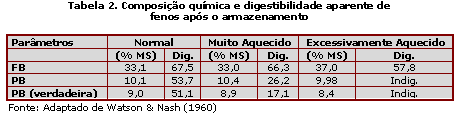
Vale ressaltar que, em silos mal manejados o processo de oxidação de nutrientes é semelhante ao que acontece durante o armazenamento de fenos, devido ao crescimento de microrganismos indesejáveis que produzem calor, e dessa maneira há acréscimos na temperatura da massa de silagem, ocorrendo reações de Maillard e a provável indisponibilidade da proteína.
Analisando os resultados (Tabela 1 e Tabela 2) podemos observar, que quando proteína bruta é analisada de forma isolada na composição química de forragens conservadas, poucas alterações podem ser determinadas devido aos erros inerentes a essa metodologia. Assim, a simples determinação da concentração de PB, ou seja, nitrogênio total é inadequada para descrever a qualidade da proteína presente na forragem, tornando-se importante o conhecimento das frações nitrogenadas (NNP, proteína verdadeira, nitrogênio ligado à parede celular) que a compõe e dessa maneira a busca por eficiência na produção animal.
O uso de aditivos durante a ensilagem e a fenação pode ser um interessante recurso, por promover diminuição da proteólise e a inibição de microrganismos indesejáveis reduzindo as perdas de nitrogênio durante o processo de conservação de forragens.
Ressalta-se também, que o processo de conservação de forragens altera os nutrientes originalmente presentes na planta, proporcionando a produção de silagens e de fenos de diferentes qualidades nutricionais (Figura 2). Portanto, deve haver atenção para o uso de tabelas que trazem o valor da composição química dos alimentos quando a dieta for calculada com base no uso de forragens conservadas. O ideal seria que na fazenda ou dentro de instituições de pesquisa, as rações fossem manipuladas de acordo com a verdadeira composição que o volumoso apresenta, respeitando as suas particularidades.

Literatura consultada
BERNARDES, T. F. Características fermentativas, microbiológicas e químicas do Capim-marandu (Brachiaria brizantha (Hochst ex. a. Rich) Stapf cv. Marandu) ensilado com polpa cítrica peletizada. Dissertação de mestrado – FCAV/UNESP, 2003, 108p.
GIVENS, D. I., RULQUIN, H. Utilisation of protein from silage-based diets. In: THE INTERNATIONAL SILAGE CONFERENCE, 13th, 2002, Auchincruive. Proceedings… Auchincruive, 2002, p. 268-283.
JOBIM, C. C., GONÇALVES, G. D. Microbiologia de forragens conservadas. In: VOLUMOSOS NA PRODUÇÃO DE RUMINANTES: VALOR ALIMENTÍCIO DE FORRAGENS. Jaboticabal:Funep, p. 1-26, 2003.
NUSSIO, L. G., RIBEIRO, J. L., PAZIANI, S. F. et al. Fatores que interferem no consumo de forragens conservadas. In: VOLUMOSOS NA PRODUÇÃO DE RUMINANTES: VALOR ALIMENTÍCIO DE FORRAGENS. Jaboticabal:Funep, p. 27-50, 2003.
WATSON, S. J., NASH, M. J. The conservation of grass and forage crops. 2 ed. London, 1960, 758p.