Análise semanal – 25/08/04
25 de agosto de 2004Europeus criticam Sisbov
26 de agosto de 2004Como a uréia ou a proteína podem afetar a reprodução de fêmeas?
Por Marcelo Q. Manella1 e Ana Paula Gonçalves2
A uréia, como pode ser observado no artigo anterior, é uma importante ferramenta para redução de custos com suplementos, pois permite substituir parcialmente fontes de proteína verdadeira nas dietas. Neste radar iremos esclarecer algumas dúvidas, e erros conceituais sobre efeitos deletérios da uréia sobre o desempenho reprodutivo das fêmeas.
Freqüentemente o uso da uréia é associado a infertilidade em vacas, porém, isto não é verdade, sendo fruto de interpretação e compreensão errôneas de trabalhos científicos. Com base nestes erros conceituais, alguns colegas chegaram a banir o uso de uréia na alimentação de vacas em reprodução em algumas propriedades. Esta má compreensão pode estar relacionada ao fato de que alguns trabalhos, escassos, sinalizam que a concentração de uréia no sangue com valores acima de 20 mg/dl pode estar relacionada a problemas de fertilidade, e não a uréia dietética. A concentração da uréia sangüínea está relacionada a quantidade de proteína ingerida pelo animal, sendo de origem verdadeira (vegetais) ou de nitrogênio não protéico (NNP, uréia).
Toda proteína na dieta dos ruminantes pode seguir “dois caminhos”: ou é degradada no rúmen, ou escapa para os intestinos e é quebrada em aminoácidos e absorvida. O nitrogênio da proteína degradada no rúmen é utilizado pelos microorganismos ruminais para síntese de proteína microbiana, através da incorporação de aminoácidos, peptídeos ou nitrogênio amoniacal originário da desaminação dos aminoácidos. O nitrogênio não protéico (NNP), como a uréia, também pode se tornar proteína microbiana, após a conversão enzimática da uréia em amônia ruminal. A produção microbiana é maximizada quando a relação entre energia disponível (matéria orgânica fermentecível) e nitrogênio (proteína é maximizada). Quando esta relação não é adequada pela deficiência de energia ou excesso de proteína degradável no rúmen, a concentração de nitrogênio amoniacal no rúmen aumenta. Parte amônia é absorvida pela parede do rúmen e cai na circulação, e por ser tóxica ao animal ela é rapidamente convertida em uréia no fígado. Portanto, a concentração de amônia no rúmen está diretamente relacionada à concentração de uréia no sangue. O fígado também produz uréia devido à metabolização de aminoácidos livres no sangue. Esta uréia permanece na circulação, podendo até ser excretada via urina, voltar ao rúmen via saliva ou excretada no leite.
Recentemente, Kenny et al (2001) publicaram uma série de experimentos para estudar o efeito da uréia na reprodução de fêmeas bovinas de corte. Em um primeiro experimento testou-se diferentes níveis de uréia (0, 80, 160 ou 240 g/dia) na alimentação de novilhas e seus efeitos na concentração de uréia no sangue (fig. 1). Este primeiro ensaio determinou a quantidade de uréia na dieta para que os níveis sangüíneos da uréia ultrapassassem 20 mg/dl, valor este considerado por muitos o “limite” crítico para provocar problemas reprodutivos. Neste mesmo experimento, os autores relatam que ao fornecer fonte de energia, no caso melaço, este foi eficaz em reduzir as concentrações de uréia sangüínea (Figura 2). Esta redução com o fornecimento de energia, se dá pela maior eficiência do uso da amônia liberada no rúmen pela uréia pelos microorganismos, na presença de energia.
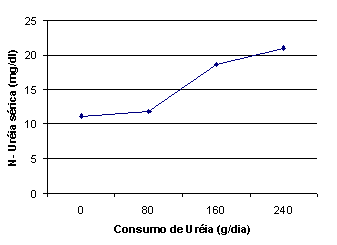
Figura 1: Consumo de uréia e concentração sérica de nitrogênio na forma de uréia.
Adaptado: Kenny et al. (2001).
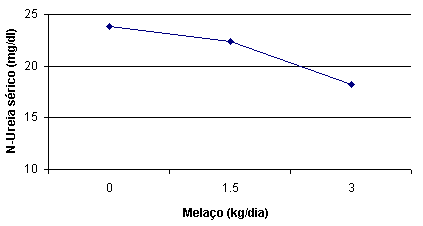
Figura 2. Efeitos da ingestão de energia
Adaptado: Kenny et al. (2001)
Nos ensaios subsequentes Kenny et al. (2001) avaliaram os efeitos da suplementação de proteína degradável no rúmen com ou sem suplementação de energia prontamente fermentecível no rúmen (3 kg de melaço). Neste ensaio foram utilizados 162 novilhas, recebendo dois níveis de uréia (0 ou 240g/cabeça dia) com ou sem suplementação de 3 kg de melaço, e permanecendo nestes tratamentos até 40 dias após a inseminação artificial. Os animais que receberam uréia apresentaram maiores concentrações plasmáticas de uréia e amônia. Por outro lado, a suplementação com melaço reduziu as concentrações de uréia plasmática. Não houve nenhum efeito do tipo de suplementação nas concentrações de glicose, insulina ou de progesterona (tabela 1). Quanto à sobrevivência de embriões, os autores relatam que não foram observadas diferenças significativas pelo consumo de uréia e nem houve interação com a suplementação com uréia.
Tabela 1: Efeito do tipo de dieta sobre a concentração média de uréia (mg/dl), amônia (mmol/l), insulina (mIU/ml), progesterona (ng/ml) e na taxa de sobrevivência embrionária

Em outro trabalho, onde comparou-se os efeitos da adubação de pastagens com altos níveis de N, também não foram observados qualquer alteração na reprodução das novilhas.
Com base nos resultados acima relatados, os autores concluíram que a concentração de proteína na dieta ou concentrações sistêmicas de uréia ou de amônia não afetam a concentração de progesterona, 7 dias após a inseminação artificial e a subsequente sobrevivência embrionária. Segundo os autores, as alterações no fluído intra-uterino são mínimas ou praticamente nulas, devido às elevações nas concentrações de uréia no sangue. Isto foi concluído após os autores realizarem infusões de uréia ou amônia pela veia jugular, e analisarem as alterações no fluído do oviducto (ou fluído intra-uterino). Como conclusão final da série de trabalhos, os autores relatam que as elevações de uréia ou amônia sanguínea por si só, em situações normais de campo, não afetam a sobrevivência de embriões, devido a alterações no ambiente intra-uterino.
No Brasil, Barreto et al. (2003) avaliaram o uso de uréia em suplemento protéico fornecido as doadoras (experimento 1) e receptoras de embrião bovinos (experimento 2). As fontes de proteína eram apenas Soja, Soja+Uréia ou apenas Uréia.. Os resultados do experimento 1 são apresentados na tabela 2 e do experimento 2 na tabela 3.
Tabela 2: Classificação das estruturas e cultivo in vitro dos embriões obtidos de doadoras submetidas a três diferentes fontes de protéicas.
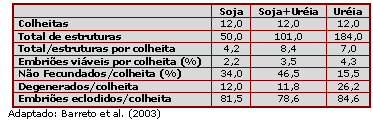
Tabela 3: Taxa de prenhez aos 30 e 60 dias e de reabsorção embrionária em receptoras de embriões, submetidas a três diferentes fontes protéicas.
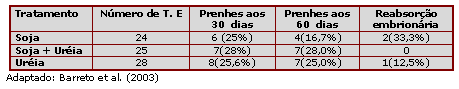
Como pode ser observado na tabela 2 e 3, não houve nenhum efeito deletério da utilização de uréia na alimentação das doadoras e muito menos das receptoras, estando estes resultados de acordo com uma série de trabalhos realizados na Irlanda. Barreto et al (2003) concluiram que ” …a uréia quando fornecida para vacas Nelore juntamente com uma dieta balanceada em energia, minerais e vitaminas, mostrou-se como uma opção de substituição do farelo de soja em mistura de concentrados para suplementação de doadoras e receptoras de embriões bovinos, sem afetar o seu desempenho reprodutivo nos parâmetros testados”.
Alguns trabalhos na literatura têm mostrado ocorrências de problemas reprodutivos em animais recebendo dietas com excesso de proteína, principalmente onde a relação proteína/energia não é respeitada. O que seria coerente, partindo do princípio que vacas consumindo dietas com elevada proteína e inadequada energia, tendem a apresentar teores de uréia no sangue elevadas e a excreção da uréia pelo animal gasta energia. Esta energia gasta é desviada da energia do ganho/produção, gordura corporal, etc. Desta forma, sempre que as fêmeas apresentarem redução no aporte de energia, a primeira coisa que é afetada é a reprodução. Porém, cuidados devem ser tomados com relação à interpretação dos resultados, pois outros fatores podem ser predisponentes, como idade da vaca, nível de produção, condição corporal etc. Muitos dos relatos são de trabalhos que muitas vezes não apresentaram um número de repetições adequado e/ou não descrevem de forma clara as condições em que o trabalho foi realizado.
Em revisão feita por Muller & D´Yvoy (2000) observou-se que o aumento nos teores de proteína na dieta (valores acima de 19%) foi prejudicial à fertilidade das vacas leiteiras. Porém, os autores mencionam que quaisquer conclusões poderiam ser precipitadas em função de que outros fatores podem acentuar redução de fertilidade. Os autores citaram um trabalho onde elevados teores de proteína afetaram mais as vacas leiteiras mais velhas que as mais novas (tabela 4). Neste estudo, vale ressaltar que animais mais velhos foram os mais afetados com relação à quantidade de proteína na dieta, porém, são os animais que produzem mais leite e perdem mais condição corporal.
Se forem consideradas as condições do Brasil, ou seja, vaca/novilha a pasto, recebendo no máximo 500g de suplemento protéico da seca ou até mesmo nas águas, pode-se afirmar que é praticamente impossível que elas ultrapassem valores séricos de uréia acima das 20mg/dl. Isto também seria difícil mesmo para vacas elite. E mesmo se ultrapassar, ainda existem vários outros fatores que devem ser associados para realmente afetar a reprodução, como condição corporal, por exemplo.
Tabela 4: Desempenho reprodutivo de vacas em lactação com diferentes teores de proteína
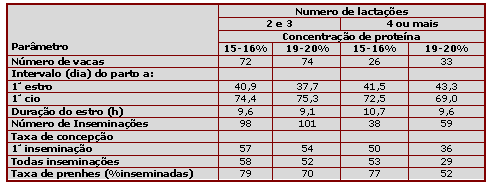
De forma geral, dietas balanceadas para ótima relação de energia e proteína não devem causar nenhum efeito deletério a reprodução, independente da fonte de proteína utilizada, verdadeira ou não (uréia). Entretanto, na dúvida, é conveniente consultar técnicos com experiência em formulação de dietas.
Literatura Consultada
Barney Harris, Jr. Protein intake and dairy com fertility Florida Cooperative Extension Service / Institute of Food and Agricultural Sciences / University of Florida / Larry R. Arrington, Interim Dean. http//edis.ifas.ufl.edu/BODY_DS076.
Barreto, A. G.; Louvandini, H.; Costa, C. P.; McManus, C.; Rumpf, R. Uso da uréia como suplemento protéico na dieta de doadoras e receptoras de embriões Bovinos. Revista Brasileira de Zootecnia, v. 32, n. 1, p. 77-84, 2003.
Muller, C.; D´Yvoy, T. Effect of high protein intake on reprodutive performance of dairy cows: a reviw. Elsemburg Journal, p.46-51, 2000.
__________________________________________________
1 Médico Veterinário, Doutor em Ciência Animal e Pastagens, Pós-Doc no Instituto de Zootecnia
2Médica Veterinária, mestranda da FMVZ-USP em Nutrição Animal.
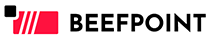


5 Comments
Cumprimentos aos autores por analisar e derrubar um mito generalizado na pecuária.
Parabéns aos autores pelo assunto retratado e pela forma em que foi colocado!
Diante da valorização das fontes de proteínas verdadeiras, particularmente farelo de soja, a desmistificação do uso da uréia em animais em reprodução é extremamente importante.
Parabéns aos autores pela revisão.
Este artigo abre a opção de se realizar dosagens laboratoriais para avaliar a real situação de lotes de vacas leiteiras. O laboratório neste caso pode tanto atuar comprovando a existência de um problema como para detectá-lo.
O artigo em questão discutiu de forma apropriada e atual a relação entre a alimentação ingerida e problemas de fertilidade.
Da mesma forma podem ser discutidos problemas relacionados à imunidade, inclusive a ocorrência de mastite ou mesmo problemas de casco. Com o avanço das técnicas laboratoriais, o custo do exame pode ser desprezível em relação ao benefício a longo prazo.
Venho dar os parabens pelo trabalho muito bem redigido e explicativo, tirou varias duvidas sobre este mito.