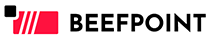MS registra queda de abates em novembro
16 de dezembro de 2004Índice Esalq/BM&F: arroba cai 3% em dezembro
17 de dezembro de 2004Controle de enterobactérias associadas à ensilagem
Por Lucas José Mari1 e Luiz Gustavo Nussio2
1. INTRODUÇÃO
As enterobactérias representam a menor parte da microflora de plantas forrageiras, mas se apresentam em número maior que as bactérias láticas e sua população eleva-se substancialmente nos primeiros dias de ensilagem. Normalmente com o decorrer do processo fermentativo, durante a queda do pH pelo desenvolvimento de bactérias ácido láticas (BAL), a população de enterobactérias sofre severo declínio. Entretanto, quando a fermentação é por algum motivo retardada, essas espécies de bactérias competem entre si por nutrientes. Outra conseqüência indesejável da fermentação por enterobactérias é a produção de endotoxinas – lipídio A – (Lindgren et al., 1987) e amônia (Seale et al., 1986; Henderson, 1987) durante o processo de ensilagem.
As enterobactérias competem com as BAL por carboidratos disponíveis, principalmente durante a fase inicial de fermentação. De acordo com Seale (1986) as enterobactérias iniciam a produção de amônia através de variadas reações de deaminação e comprometem severamente o valor nutritivo desse volumoso. Enterobactérias potencialmente patogênicas como Escherichia coli e Klebsiella pneumoniae, bem como Listeria monocytogenes podem estar presentes na silagem, particularmente naquelas estocadas sob más-condições (Woolford, 1990; McDonald et al., 1991). Essas bactérias indesejáveis são responsáveis por desarranjos intestinais e mastite em bovinos, certas cepas de Listeria monocytogenes são relacionadas a um grande número de patogenias e causam aborto espontâneo (Brenner, 1984; McDonald et al., 1991).
Pouco se sabe sobre os tipos de enterobactérias presentes na forragem e silagem. Este artigo tem como objetivo apontar as espécies predominantes e a ação de ácidos orgânicos (lático, acético e fórmico) sobre a população destas bactérias indesejáveis.
2. MECANISMO DE AÇÃO E CONTROLE DE ENTEROBACTÉRIAS
Para controlar a população dessas enterobactérias, McDonald et al. (1991) preconizaram a rápida acidificação do meio por ação da fermentação lática em anaerobiose. Ainda, segundos esses autores, a formação de outros ácidos oriundos da fermentação por bactérias láticas heterofermentativas, especialmente o acético podem controlar a população de enterobactérias. O ácido fórmico, muito utilizado como aditivo no norte da Europa, tem propriedade de reduzir o pH e inibir bactérias seletivas que podem provocar efeito deletério sobre o processo fermentativo da silagem (McDonald et al., 1991). Esse ácido é conhecido por retardar o crescimento de microrganismos como enterobactérias, Clostridium sp., Bacillus sp., Listeria sp., leveduras e fungos (Baird-Paker, 1980).
O efeito inibitório dos ácidos orgânicos sobre a população de enterobactérias está relacionado principalmente à quantidade de ácido não-dissociado (Baird-Paker, 1980). A equação 1 mostra como pode ser calculada a porção de ácido não-dissociado. Entretanto, para Eklund (1985) um efeito mais tênue também pode ser relacionado às moléculas dissociadas. O mecanismo de ação consiste na difusão de moléculas não-dissociadas de ácidos orgânicos (lático, acético e fórmico) através da membrana celular, já no interior da célula ocorre a separação dos ácidos não-dissociados em ânions e prótons, dependendo do pH interno. Isso pode levar a acidificação do citoplasma, quebra da força próton-motiva, inibição do transporte de substrato, síntese de macromoléculas e produção de energia (Baird-Paker, 1980).

Onde:
AND – Quantidade de ácido não-dissociado (mmol L-1);
AT – Quantidade de ácido total (mmol L-1).
Embora a atividade inibitória dos ácidos orgânicos não-dissociados seja conhecida há mais de 60 anos, nos artigos sobre conservação de forragem na forma de silagem, o pH é ainda utilizado como o principal critério de indicação da atividade inibitória (Lindgren & Dobrogosz, 1990).
3. RESULTADOS DE CONTROLE DE MICRORGANISMOS INDESEJÁVEIS
Woolford (1975) estudou a adição de três ácidos orgânicos (acético, fómico e propiônico) em três níveis de pH (4, 5 e 6). Como resultado (Tabela 1) verificou que o ácido fórmico pareceu ser mais efetivo em inibir o crescimento de bactérias próximo do pH 4, e na faixa de pH 5 e 6, o ácido propiônico foi mais ativo em inibir o crescimento de Clostridium sp., Bacillus sp. e bactérias Gram-negativas.
Tabela 1 – Concentração inibitória mínima (CIM) (mmol litro-1) de ácidos fórmico, acético e propiônico contra vários grupos de microrganismos em três níveis de pH

Heron et al. (1993) avaliaram a silagem de azevém (Lolium multiflorum) não tratada (19,7 %MS) e verificaram a presença dessas enterobactérias em meio de cultura seletivo para tais espécies. Os autores verificaram que a adição do ácido fórmico (3 L ton-1 de ácido fórmico 85%) levou à queda do pH até aproximadamente 4,2 e este não se alterou nos 9 dias em que se estendeu o ensaio (Figura 1). As silagens tratadas apresentaram maiores teores de carboidratos solúveis (CS), além de uma imediata queda na população de enterobactérias. Todavia, essa baixa população foi apenas temporária, refazendo-se após 2 dias e alcançando os níveis mais elevados após o 6o dia de ensilagem. Resultados semelhantes têm sido encontrados e esses, segundo Lindgren et al. (1985), são por conta do ácido fórmico ser menos efetivo contra enterobactérias que outros ácidos orgânicos.

Figura 1 – Contagem da população de enterobactérias em forragens e silagens de azevém, tratada ou não com ácido fórmico. Fonte: Adaptado de Heron et al., 1993.
Na Tabela 2 pode-se notar o pH máximo para restringir o crescimento de certos grupos de enterobactérias. Nota-se que mesmo na presença de ácidos orgânicos, algumas enterobactérias são capazes de resistir ao baixo pH, e somente quando este foi menor que 3,7, Östling & Lindgren (1993), conseguiram controlar o crescimento dessas bactérias indesejáveis. No pH mínimo de 4,0 ainda certas cepas de Salmonella sp. foram capazes de iniciar seu crescimento. Valores de pH abaixo de 4,1 são necessários para inibir o crescimento de vários grupos de enterobactérias e pH abaixo de 3,8 foi necessário para inibir uma cepa de Salmonella sp.
Tabela 2 – Valores de pH máximo para restringir o crescimento de bactérias

4. RESULTADOS DO TRATAMENTO QUÍMICO SOBRE A COMPOSIÇÃO DAS SILAGENS
Quando o ácido fórmico foi aplicado em culturas que apresentaram altos teores de CS, a fermentação predominantemente lática os preservou. Esse resultado foi encontrado no ensaio conduzido por Carpintero et al. (1979), no qual uma mistura de azevém e trevo, contendo 203 g kg-1 MS de CS foi ensilado em silos do tipo laboratório com diferentes doses de ácido fórmico. Quando utilizaram altos níveis de ácido fórmico o teor de CS resultante encontrado na silagem foi até mesmo mais elevado que aquele encontrado na forragem, presumivelmente em virtuda de hidrólise de polissacarídeos ocorrida durante o processo fermentativo. O efeito da aplicação sobre a porção protéica também pode ser visualizada na Tabela 3, mostrando que com o aumento das doses levou a decréscimos nos teores de N-amoniacal.
Tabela 3 – Efeito de diferentes doses de ácido fórmico (g kg-1) na composição de silagens de azevém e trevo, após 50 dias de fermentação

O efeito sobre a preservação de CS é aumentado com o aumento do teor de MS, como pode ser observado na Tabela 4. Outra ação do ácido fórmico, segundo alguns autores, é a de inibir respiração celular, refletindo em menores temperaturas da massa, durante o período de estocagem.
Tabela 4 – Composição das silagens de azevém tratadas com ácido fórmico (1,15 % MS) em diferentes teores de matéria seca

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados dos trabalhos apresentados demonstram que certas espécies de enterobactérias se apresentam em grande número durante a ensilagem e minoritariamente na forragem fresca. Os ácidos orgânicos têm igual importância na inibição do crescimento de enterobactérias na silagem como forma de ácidos não-dissociados. A possível aplicação de certos ácidos orgânicos de forma não homogênea pode permitir o crescimento dessas bactérias indesejáveis, mesmo se a quantidade de ácidos orgânicos não-dissociados for relativamente elevada.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BAIRD-PARKER, A.C. Organic acids. In: SILIKER, J.H.; ELLIOT, R.P.; BAIRD-PARKER, A.C. et al. (Ed.). Microbial ecology of foods. New York: Academic Press, 1980. p.126-135.
BRENNER, D.J. Family 1. Enterobactriaceae. In: KRIEG, N.; HOLT, J. (Ed.). Bergey´s manual of systematic bacteriology. Baltimore: Williams & Wilkins, 1984. p.409-498.
CARPINTERO, C.M.; HENDERSON, A.R.; MCDONALD, P. The effect of some pretreatments on proteolysis during the ensilage of herbage. Grass and Forage Science, v.34, p.311-315, 1979.
EKLUND, T. Inhibition of microbial growth at defferent pH levels by benzoic and propionic acids and esters of ρ-hydrobenzoic acid. International Journal of Food Microbiology, v.2, p.159-167, 1985.
HENDERSON, A.R. Silage making: Biotechnology on the farm. Outlook on Agriculture, v.16, p.89-94, 1987.
HERON, S.J.E.; WILKINSON, J.F.; DUFFUS, C.M. Enterobateria associated with grass and silages. Journal of Applied Bacteriology, v.75, p.13-17, 1993.
LINDGREN, S.; DOBROGOSZ, W.J. Antagonistics activities of latic acid bacteria in food and feed fermentation. FEMS Microbiology Reviews, v.87, p.149-164, 1990.
LINDGREN, S.; LINGVALL, P.; PETTERSON, K.O. Relationship between chemical quality and microbial composition of silages In: INTERNATIONAL SILAGE CONFERENCE, 8. Hurley, 1987. Proceedings. Hurley: AFRC Institute for Grassland and Animal Production, 1987. p.11-12.
LINDGREN, S.; PETTERSON, K.O.; JONSSON, A,; LINGVALL, P.; KASPERSSON, A. Silage inoculation. Selected strains, temperature wilting and practical application. Swedish Journal of Agricultural Research, v.15, p.9-18, 1985.
McDONALD, P.J.; HENDERSON, A.R.; HERON, S.J.E. The biochemistry of silage. 2.ed. Mallow: Chalcombe Publications, 1991. 340p.
ÖSTLING, C.; LINDGREN, S. Inhibition of enterobacteria and Listeria growth by lactic, acetic and formic acids. Journal of Applied Bacteriology, v.75, p.18-24, 1993.
SEALE, D.R. Bacterial inoculants as silage additives. Journal of Applied Bacteriology, Symposium Supplement, 9S-26S, 1986.
SEALE, D.R.; HENDERSON, A.R.; PETTERSON, K.O.; LOWE, J.F. The effect of addition of sugar and inoculation with two commercial inoculants on the fermentation of Lucerne silage. Grass and Forage Science, v.41, p.61-70, 1986.
WOOLFORD, M.K. Microbiological screening of the straight chain fatty acids (C1-C12) as potential silage aditives. Journal of the Science of Food and Agriculture, v.26, p.219-228, 1975.
WOOLFORD, M.K. The detrimental effects of air in the silage. Journal of Applied Bacteriology, v.68, p.101-116, 1990.
__________________________________________________
1 Médico Veterinário, Mestre, Doutorando em “Ciência Animal e Pastagens” – USP/ESALQ.
2 Professor Associado do Departamento de Zootecnia – USP/ESALQ – Piracicaba, SP.