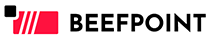Simpósio sobre manejo sanitário será realizado em junho
8 de abril de 2005BeefPoint realiza pesquisa sobre castração com 770 pecuaristas
11 de abril de 2005Cozinha típica brasileira: parte 2
Vamos falar um pouco da contribuição que cada povo deu aos nossos pais e como sua culinária típica passou a ser parte integrante do trivial.
Portugueses
Quando aqui aportaram, os portugueses trouxeram consigo um complicado caldeamento de lusitanos, romanos, árabes e negros que habitaram em Portugal. O movimento de portugueses para o Brasil foi relativamente pequeno no século XVI, mas cresceu durante os cem anos seguintes e atingiu cifras expressivas no século XVIII. A descoberta de minas de ouro e de diamantes em Minas Gerais foi o grande fator de atração migratória. Calcula-se que nos primeiros cinqüenta anos do século XVIII entraram, só em Minas, mais de 900.000 pessoas.
O que não havia aqui, eles foram trazendo: vacas, bois, touros, ovelhas, cabras, carneiros, porcos, galinhas, patos e gansos. O costume de comer carne de gado começou com a vinda dos rebanhos para o continente americano no século XVI. Assim, sarapatel, panelada, buchada, entre outros, não foram técnicas africanas, mas processos europeus. O sarapatel ou sarrabulho, alimento preparado com sangue e vísceras de porco e carneiro foi aprendido pelo português na Índia. A panelada e a buchada, preparadas com vísceras assadas em grelha ou chapa do fogão, têm origem castelhana e entraram no país por influência da vizinhança e contato espanhol. Os indígenas nem conheciam o consumo de carne bovina e os africanos nunca tiveram tal costume. Em períodos de escassez, o negro africano vendia boi para adquirir comida no comércio. Do cozido veio a idéia de incluir o feijão preto ou mulatinho, com as carnes e muitas verduras, tentando fazer um prato único, surgindo assim a feijoada, prato típico brasileiro preparado à moda carioca, baiana e nortista.
No quintal, plantaram as frutas apreciadas: figo, romã, laranja, lima e limão. Nas imensidões das nossas praias, de onde provinham os peixes, plantaram os coqueiros. Semearam o arroz, melão e melancias. Na horta, toda a fartura da culinária mediterrânea, com suas ervas, legumes e verduras. E o principal, que viria a se tornar na época, fonte de exportação: a cana de açúcar. Daí a aliar os doces conventuais aos nossos ingredientes foi um passo: arroz doce, quindim de coco, sequilhos etc. Aos poucos, com a ajuda das escravas africanas, os frutos da terra foram sendo transformados nos doces de compoteiras: caju, amendoim, abacaxi, manga, goiaba, maracujá, coco, batata doce, abóbora. A doçaria de origem portuguesa também é variada: pudim de iáiá, arrufos de sinhá, bolo de noiva, pudim de veludo. Vieram de Portugal também muitos quitutes mouriscos e africanos como o alfenim e o cuscuz, por exemplo
O milho, velho conhecido dos indígenas, foi também aproveitado pelos portugueses na pamonha e na canjica.
A sopa, prato substancial na culinária européia e em especial da portuguesa, até hoje marca presença em nossas mesas nos dias mais frios. Quem não se delicia diante de uma canja fumegante ou de um caldo verde tentador?
E o bacalhau? Tornou-se imprescindível apresentá-lo às sextas-feiras Santas.
Os negros africanos
O negro africano contribuiu para o desenvolvimento populacional e econômico do Brasil e tornou-se, pela mestiçagem, parte inseparável de seu povo. Sua presença projetou-se em toda a formação humana e cultural do Brasil com técnicas de trabalho, música e danças, práticas religiosas, alimentação e vestimentas.
As negras quituteiras foram fundamentais na alquimia da culinária brasileira. Chegaram como escravas, e como as sinhazinhas não se dispunham a ficar à frente do fogão a lenha, foram elas que afeiçoaram os sabores africanos aos ingredientes disponíveis. Introduziram o azeite de dendê, o camarão seco, a pimenta malagueta, o inhame, o quiabo, a canjiquinha, temperos e condimentos.
A banana foi herança africana no século XVI e tornou-se inseparável das plantações brasileiras, cercando as casas dos povoados e as ocas das malocas indígenas, e decorando a paisagem com o lento agitar de suas folhas. Nenhuma fruta teve popularidade tão fulminante e decisiva, juntamente com o amendoim. A banana foi a maior contribuição africana para a alimentação do Brasil, em quantidade, distribuição e consumo.
Da África vieram ainda a manga, a jaca, o arroz, a cana de açúcar, assim como o coqueiro e o leite de coco, aparentemente tão brasileiros. Em troca, os africanos levaram mandioca, caju, abacaxis, mamão, abacate, batatas, cajá, goiaba e araçá.
A presença africana na mesa brasileira tem no dendê seu grande representante, assim como na pimenta, não as nativas usadas pelos índios mas a malagueta e a da Costa ou Ataré, trazidas pelos negros da África. A palmeira de onde se extrai o azeite foi trazida da África para o Brasil nas primeiras décadas do século XVI. Todos o pratos vindos do continente africano foram reelaborados e recriados no Brasil, com os elementos locais e o azeite de dendê. A escrava negra chegada ao Brasil já era cozinheira, passando a competir os segredos da boa mesa com as mulheres indígenas, aprendendo com as amas portuguesas e suplantando-as pela diversidade de temperos que soube manejar. O inhame é africano, mas era conhecido em Portugal. O caruru, tal como o conhecemos, é prato africano, mantendo a denominação indígena, mas com outro conteúdo: galinha, peixe, carne de boi ou crustáceo.
Italianos
Entre uma destacada herança culinária italiana, podemos citar a macarronada com seu molho à bolonhesa, de sabor e aroma inconfundíveis. Muitas donas de casa ainda dedicam horas ao preparo da sua receita especial de molho, cozendo-o no fogo lento, exalando um aroma que faz salivar os mais empedernidos dietistas.
Os italianos que aqui desembarcaram, tomaram o destino nas suas mãos, e com sua coragem e força de trabalho, modificaram as feições da nossa terra. As mammas e nonnas, com sua docilidade e fragilidade, ensinaram às brasileiras o poder italiano de uma boa mesa, compartilhada com muita união e diálogo. Daí o hábito, ainda hoje compartilhado, de reunião à mesa, na companhia de familiares e amigos. É comum em todo o território reuniões que terminam em pizza, literalmente.
As festas aos seus santos de devoção estão incorporadas ao calendário brasileiro Acompanhadas sempre da boa mesa italiana: pimentões, berinjelas, antepastos inesquecíveis, embutidos artesanais, queijos, lingüiças, pão italiano, macarrão, pizza, canolis, sfogliatellas, pastieras. E vinho, muito vinho.
Espanhóis
Faz apenas um século que os espanhóis começaram a cruzar o oceano em busca de prosperidade no Brasil, trazendo nos seus farnéis o prazer pela mesa. Em 1920, um censo revelou que 80% desses imigrantes viviam em São Paulo.
Dentre os hábitos alimentares espanhóis incorporados aos nossos, podemos citar o prazer de curtir um aperitivo no barzinho, acompanhado de porções. Uma típica cópia do hábito espanhol de curtir seus “tapas” ao fim do dia de trabalho.
O risoto espanhol, à feição da “paella”, aproxima-se muito mais do risoto brasileiro, com seu arroz soltinho, que o risotto italiano. É comum em cidades litorâneas o preparo de paellas e de peixes “à la plancha”, grelhados bem ao agrado do espanhol. E qual a mãe, que na falta de carne, não prepara uma omelete com batatas, a típica tortilla de patatas? Há também o cozido, prato de nítida influência espanhola, bastante apreciado no inverno, quando bate a garoa e o vento gelado, e o churro, tão incorporado, comum de ser encontrado em carrinhos na rua servindo-os quentinhos, recheados ou simples, envoltos em açúcar.
Árabes
Quando se fala em família árabe, fala-se principalmente daquelas originárias da Síria ou do Líbano, maiores fontes de imigrantes que começaram a chegar aqui no final do século passado. Trouxeram em sua bagagem os quibes, as esfihas, o cafta, o tabule, a coalhada, o arroz com lentilha, os charutos de folha de uva e de repolho. Alguns dos seus hábitos alimentares se solidificaram, como a utilização do trigo, da cevada, do arroz, os temperos e especiarias como cominho, coentro, cebola, hortelã. O famoso cuscuz paulista tem suas remotas origens na herança árabe.
O carneiro, fonte principal de carne para o preparo de recheios e pratos principais, foi aqui substituído pela carne bovina, mais comum e mais ao gosto da população.
Japoneses
São Paulo é o exemplo mais eloqüente do peso desta cultura que estabeleceu suas raízes, cativando-nos com sua milenar tradição, inclusive gastronômica. De São Paulo, como os bandeirantes, os japoneses partiram para outros recantos, conquistando com sua perseverança um lugar de direito.
É bastante comum encontrar no interior, “caipiras” japoneses, que falam com o mais típico sotaque sertanejo. Com o tempo, foram sendo assimilados pelo nosso povo e é corriqueiro encontrar-se amorenados com olhinhos puxados frutos da miscigenação.
Os imigrantes que foram se liberando do trabalho assalariado nas fazendas, passaram a dedicar-se à lavoura, por conta própria. Esta atividade enriqueceu a variedade, quantidade e a qualidade dos hortifrutigranjeiros. Ninguém atenta mais ao fato de que foram eles os responsáveis por se encontrar comumente no mercado, ingredientes como morangos, caquis, melões, melancias, abóbora japonesa, acelga, gengibre, broto de bambu, soja etc.
Comer sushis e sashimis virou moda e mania, a ponto das churrascarias oferecerem estas iguarias, lado a lado com o bom churrasco. Macarrão yakissoba é encontrado quotidianamente em bufês. Os pastéis, que aprenderam com os chineses, fazem parte do dia-a-dia, e toda feira livre que se preze, tem uma barraquinha especializada neles. Miojo virou sinônimo de fast food japonês, e na falta de vontade de cozinhar (ou de saber fazê-lo, caso de muitos estudantes), recorre-se a ele.
Alemães
Os alemães vieram em quantidades apreciáveis para o Brasil, fundando colônias. Começaram chegando a São Leopoldo (RS) em 1824 e ficaram pelo Sul, ocupando também Santa Catarina e Paraná. O Norte e Nordeste não lhes pareceram confortáveis, por serem de clima bastante diferente ao que estavam acostumados. O alemão não nos trouxe influência nova na alimentação, mas reforço ao consumo de certas espécies usadas pelos portugueses desde o século XVI, tais como a cerveja, carnes salgadas e defumadas, batatas, salsichas, mortadela e toucinho defumado. Devido ao clima favorável da região Sul, dedicaram-se ao cultivo de frutas européias como maçã, uva, ameixa, pêssego e pêra. Cultivaram também o trigo e o centeio para garantir a produção do pão preto, além de hortaliças como o repolho para o preparo do chucrute (repolho fermentado em água e sal). Com a criação de porcos, asseguraram a produção de lingüiças e outros embutidos.
Estaremos publicando mais uma parte desse especial. São um total de 3 partes, além de um anexo com receitas.
Para ler a parte 1, clique aqui.
______________________________________________________
O endereço de contato do SIC é:

SIC – Serviço de Informação da Carne
Av. Francisco Matarazzo, 455
Prédio 29 – Parque da Água Branca
05001-900 – São Paulo – S.P.
Tel (11) 3872 2337
Fax (11) 3872 1297
E-mail: sic@sic.org.br