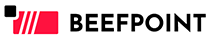Argentina veta a venda de salsicha da Sadia
17 de agosto de 2001Fertilizante nitrogenado. 3. Alternativas para uma melhor eficiência da adubação
17 de agosto de 2001Excelente artigo sobre o histórico de consumo de carnes pela espécie humana – Parte 2 (continuação)
Na última semana, colocamos uma parte do artigo escrito pelo Dr. Drauzio Varella, publicado na Gazeta Mercantil de 03/08/01 com o título de “Verdade Ancestral”. Nesta semana estamos colocando o restante do artigo. Para dar seqüência na leitura dessa segunda parte estamos repetindo o último parágrafo da primeira parte.
“Taubes analisou a incidência de doença cardíaca nos EUA nos últimos 30 anos. Desde o início da década de 1970, quando foram divulgadas as recomendações oficiais para reduzir a ingestão de gordura animal no país, a mortalidade por ataques cardíacos de fato caiu. Como as calorias derivadas da gordura animal representavam 40% do total de calorias ingeridas nos anos 80 e hoje correspondem a 34%, as autoridades da área de saúde insistem que a redução das mortes deve ser atribuída aos novos hábitos alimentares americanos.
A análise da composição deixa claro que uma chuleta não é arma tão mortal quanto nos fizeram crer. Taubes faz as contas: ‘Bem mais do que metade – e talvez até 70% – do conteúdo gorduroso contribuirá para melhorar os níveis de colesterol. Os 30% restantes provocarão aumento do LDL (colesterol ‘mau’), mas também aumentarão o ‘bom’ HDL.
Se, em lugar da chuleta, a pessoa ingerisse pão, macarrão ou batata, continua Taubes, seus níveis de colesterol ficariam piores, ‘embora nenhuma autoridade de Nutrição tenha coragem de dizer isso publicamente’.
Neste momento, a relação gordura versus carboidrato na dieta ocupa posição central no debate entre pesquisadores. A pirâmide nutricional que as autoridades de vários países – entre eles o Brasil – adotaram, com a base larga para indicar os vegetais que devem ser ingeridos em abundância, a parte intermediária referente aos carboidratos que podem ser ingeridos com liberalidade e o topo da pirâmide que corresponde à gordura animal a ser consumida de forma restrita tem sido questionada. Alguma coisa precisamos comer. Se não for carne, o que será?
A lógica é cristalina: dificilmente substituímos o bife do jantar por tomates ou cenouras. A carne costuma ser trocada por carboidratos. Dietas com baixo teor de gordura animal quase sempre são fartas em pão, macarrão, tortas e doces. Por razões mal conhecidas, temos mais dificuldade para limitar a ingestão de carboidratos do que a de gordura. Não é fácil encontrar alguém capaz de comer duas picanhas no almoço, mas pão, macarrão e doce, ingerimos em quantidades muito maiores. E, pior, digerimos esses alimentos bem mais rapidamente.
Na digestão dos carboidratos, o pâncreas é solicitado a produzir insulina para quebrá-los em açúcares mais simples que vão ser estocados nos depósitos naturais do organismo. Enquanto os açúcares de frutas e vegetais aparecem na circulação sangüínea em concentrações que aumentam lentamente à medida que vão sendo absorvidos pelo tubo digestivo, alimentos como pão, macarrão, arroz e doces dão origem a picos na circulação imediatamente depois da ingestão.
Tais picos súbitos de carboidratos obrigam o pâncreas a produzir quantidades excessivas de insulina para quebrá-los e estocá-los rapidamente. Uma vez armazenados, a energia associada a eles não está mais disponível, e o corpo sente fome outra vez.
Além de aumentar o risco de diabetes pela estimulação exagerada do pâncreas, dietas com alto conteúdo de carboidratos provocam aumento de triglicérides e de LDL, e redução dos níveis de HDL. Esta tríade de eventos bioquímicos é conhecida como resistência à insulina (ou síndrome X), e está ligada ao aumento do risco de doença coronariana.
Assim, fica claro que as recomendações atuais para evitar gordura animal nas refeições são, no mínimo, desprovidas de fundamento científico. Mais grave, podem induzir à parcela da população que tem acesso ilimitado aos alimentos a ingerir quantidades maiores de carboidratos, que podem ser responsáveis pelo aparecimento de diabetes nos geneticamente predispostos, aumento de triglicérides e de LDL, redução do HDL, e, agora sim, aumento do risco de morrer de ataque cardíaco.
O infarto do miocárdio é exemplo clássico de patologia multifatorial. Sua incidência depende principalmente da herança genética e de vários fatores de risco: sexo, idade, tabagismo, hipertensão, obesidade, diabetes, vida sedentária, níveis de colesterol e triglicérides, além do estresse da vida urbana. É ingenuidade imaginar que a simples eliminação ou redução de um único componente da dieta interfira no risco de sofrer de uma enfermidade assim complexa.
São tantos os mal-entendidos nessa área que mesmo a existência atual dessa epidemia de infartos pode ser questionada. Quem garante que esse acontecimento é recente, se nos séculos que nos precederam as pessoas morriam de doenças infecciosas muito antes de atingir 50 anos? E as poucas que viviam mais, que tipo de assistência médica recebiam? Existe algum estudo que permita comparação da mortalidade por doença cardíaca entre o século XIX e os atuais?
A questão do colesterol divide os cientistas atuais e envolve interesses econômicos. Basta pensar na quantidade de alimentos com baixos teores de gordura oferecidos. Ou no custo do atendimento médico relacionado ao controle policialesco do colesterol. Ou, ainda, no interesse econômico gerado pelas estatinas, drogas utilizadas na clínica para reduzir os níveis de colesterol, que rendem US$ 4 bilhões por ano em vendas apenas no mercado americano. As mais rígidas intervenções dietéticas não costumam provocar queda superior a 10% dos níveis de LDL -enquanto as estatinas reduzem 30%, mesmo com dietas permissivas. Sendo assim, por que não considerarmos desprezível o impacto da dieta em pessoas com níveis de LDL normais ou pouco acima da normalidade?
Para os que têm LDL elevado não seria sensato medicá-los, permitir dieta mais humana e recomendar que larguem o fumo, percam peso, controlem a pressão, aumentem a atividade física e reduzam o estresse diário?
A redução de gordura na dieta, além de estimular o consumo de carboidratos com provável piora do perfil lipídico, pode interferir em mecanismos bioquímicos importantes e mal conhecidos. Por exemplo, pessoas com colesterol total muito baixo (abaixo de 160) apresentam risco maior de hemorragia cerebral. E, mais grave, quanto mais abaixo desse nível estiver o colesterol, maior a chance de morrer por outras causas.
O citado E. Ahrens, autor de trabalhos fundamentais a respeito do metabolismo do colesterol, diz que comer menos gordura pode provocar alterações profundas no corpo, muitas delas nocivas. O cérebro, por exemplo, é 70% gordura, que serve basicamente para abrigar os neurônios.
O próprio colesterol e outras gorduras são componentes essenciais das membranas das células. Mudanças bruscas na proporção de gorduras saturadas e insaturadas na dieta podem modificar a composição dessas membranas. Essas alterações interferem nos mecanismos de transporte de todas as substâncias que entram ou saem da célula: fatores de crescimento, hormônios, bactérias, vírus e agentes cancerígenos. Como conseqüência, da composição gordurosa da membrana celular dependem processos como nutrição, resposta imunológica, produção de hormônios, condução de estímulos através dos neurônios, envelhecimento e apoptose, a morte celular programada.
Como lidar com informações contraditórias? À luz dos conhecimentos atuais, é sensato pensar o seguinte:
1) Aqueles com LDL-colesterol muito elevado provavelmente se beneficiem do corte no consumo de gordura animal. As recomendações oficiais são de que, neles, o consumo de calorias derivadas da gordura não ultrapasse 10% do total de calorias ingeridas. Não esquecer, no entanto, que uma interferência dietética dessa radicalidade costuma abaixar apenas 10% os níveis de LDL, o que pode não ser suficiente para colocar a pessoa fora de risco. Se alguém com 250 de LDL faz uma dieta vegetariana, e esse número cai para 225, o risco persiste. Nesse tipo de situação parece mais sensato usar medicamentos que reduzem as taxas de LDL em 30% e permitir certa liberalidade dietética.
2) Para a grande maioria das pessoas portadoras de níveis normais ou pouco aumentados de LDL, é fundamental deixar claro que o impacto dos níveis de colesterol no risco de doença cardíaca é pequeno. O efeito da dieta nos níveis de colesterol também. Não há demonstração científica de que se essas pessoas cortarem ou acrescentarem gordura animal na dieta terão maior ou menor risco de infarto, ou de morrer mais cedo.
3) Embora não haja respostas definitivas, vale a pena apostar numa dieta rica em vegetais, que talvez ajude a prevenir ataques cardíacos. Se não o fizerem, pelo menos são alimentos ricos em micronutrientes essenciais, ajudam o funcionamento do aparelho digestivo e têm conteúdo calórico mais baixo.
É importante lembrar da conclusão de artigo que escrevemos anteriormente para a ‘Gazeta Mercantil’: a única estratégia capaz de retardar o envelhecimento e aumentar a longevidade, em toda a escala animal, é reduzir o total de calorias ingeridas. O corpo exige número mínimo de calorias diárias, não interessa se retiradas da cenoura ou do bacon.
Uma dieta sem excesso de calorias ajuda a prevenir diabetes, hipertensão, obesidade, resistência à insulina, reumatismo, impotência sexual, ataque cardíaco, derrame cerebral, câncer e outras doenças degenerativas. Não está bom?
Uma análise mais detalhada desses números, no entanto, foi publicada na revista de maior circulação mundial entre os clínicos, o ‘The New England Journal of Medicine’, em 1988. Nela, os autores atribuem a queda dos índices de mortalidade por doenças cardíacas à melhora dos cuidados médicos no tratamento, não à redução do número de casos da doença. As estatísticas da American Heart Association dão suporte à observação anterior: entre 1979 e 1996, o número de procedimentos empregados no tratamento de doenças cardíacas aumentou de 1,2 para 5,4 milhões de intervenções/ano. Difícil atribuir à diminuição de gordura animal a responsabilidade pela queda dos índices de mortalidade, quando pontes de safena se tornaram rotineiras.
Uma das idéias a consolar as autoridades americanas que estabeleceram as normas dietéticas atuais foi a de que um grama de gordura produz 9 calorias, enquanto a mesma quantidade de carboidrato ou proteína produz 4. Então, mesmo que a recomendação de reduzir gordura animal falhasse na diminuição da incidência de doença cardíaca, ainda estaria fazendo um bem, pensaram elas: menos carne vermelha, menos calorias ingeridas, menor o número de casos de obesidade, hipertensão e diabetes. Foram ingênuas. Não levaram em conta a natureza humana. A retirada de um alimento altamente calórico da dieta não assegura necessariamente redução do número total de calorias ingeridas, porque ele pode ser substituído por outros menos calóricos mas ingeridos em quantidades maiores (carboidratos, principalmente). A quantidade de energia diária que o corpo exige para funcionar é decidida através de mecanismos inconscientes, e cobrada prosaicamente de cada um de nós na forma de fome. Dominar o apetite é tarefa inglória.
No já citado estudo entre as 50 mil enfermeiras, metade foi exaustivamente orientada a consumir uma dieta na qual as calorias derivadas de gordura não ultrapassassem 20% do total ingerido diariamente. Depois de três anos nesse regime espartano as mulheres de fato haviam perdido peso: um quilo, em média. Nos últimos 20 anos, enquanto o consumo de gordura animal caiu 6% (de 40 para 34%) na população americana, a prevalência de obesidade aumentou de 14% para mais de 22%. Ao lado dela, cresceram os casos de diabetes e hipertensão arterial. Esses dados conduzem a estas suspeitas:
1) Será que dietas mais pobres em gordura não levariam à obesidade?
2) A diminuição da atividade física provocada pelo aumento da massa corpórea não aumentaria o risco de doença cardíaca?
3) Não estaria no aumento do número de casos de diabetes e hipertensão ligados à obesidade parte da explicação para os ataques cardíacos do homem moderno? A questão está longe de ser resolvida. Dizer que dieta pobre em gordura deve ser adotada porque se não prolongar a vida, mal não fará, não tem fundamento científico. Como tantos médicos, passei anos aconselhando meus pacientes a reduzir os níveis de colesterol pela dieta alimentar. A experiência foi frustrante. Descontados os casos esporádicos, só com grande esforço pessoas muito disciplinadas conseguiram baixar as taxas de 10 a 20%, no máximo. Enquanto isso, outros se esbaldam e o colesterol não sobe. Vi um senhor que comia uma dúzia de ovos por dia havia mais de 30 anos e tinha colesterol total de 160 (pelos padrões atuais, recomenda-se que sejam mantidos valores abaixo de 200). Encontrei uma mulher de 40 anos com colesterol de 280; quando lhe disse que precisava reduzir gordura animal, respondeu que era vegetariana havia 12 anos.
Isto quer dizer que o metabolismo do colesterol pouco respeita as virtudes da pessoa. Nossa capacidade de interferir na concentração de gordura no sangue é limitada pelos fatores genéticos. Mesmo a propalada influência do colesterol na incidência de doença coronariana é discreta. Na referida matéria da ‘Science’, Gary Taubes relaciona seis estudos publicados na década de 80 que ilustram as observações anteriores. Quatro deles, nas cidades de Honolulu, Chicago, Framingham e em Porto Rico, compararam o tipo de dieta com a incidência de doença coronariana. Nenhum demonstrou que dietas de baixo conteúdo de gordura animal reduzissem ataques cardíacos ou aumentassem a longevidade.
Um quinto estudo, o ‘Multiple Risk Factor Intervention Trial’ (MRFIT), custou US$ 115 milhões. Os participantes foram aconselhados a adotar simultaneamente várias medidas para reduzir o risco de doença cardíaca: deixar de fumar, controlar hipertensão com medicamentos e cortar gordura da dieta. A análise dos dados finais mostrou que a redução de gordura não fez diferença na incidência de doença coronariana, mesmo entre hipertensos e fumantes. Ao contrário, até: entre os que adotaram dieta com menos gordura a mortalidade geral (todas as causas reunidas) foi mais elevada.
O sexto estudo começou em 1984 e foi conduzido na Universidade da Califórnia a um custo de US$ 140 milhões – o ‘LRC Coronary Primary Prevention Trial’. Nele, foram selecionados apenas homens de meia-idade com colesterol elevado (valores mais altos do que 95% da população geral). Os participantes foram divididos em dois grupos: o primeiro recebeu um medicamento para diminuir o colesterol, colestiramina; o segundo, comprimido de talco (placebo). Os resultados foram os seguintes:
1) A colestiramina causou redução significante dos níveis de colesterol.
2) O medicamento reduziu o número de ataques cardíacos de 8,6% no grupo-placebo para 7% nos tratados.
3) A administração da droga fez cair a mortalidade por infarto do miocárdio: de 2% no grupo-placebo para 1,6% no grupo-tratado.
Por incrível que pareça, a demonstração de que reduzir os níveis de colesterol por uma intervenção química como essa – que provocou 0,4% de diminuição na mortalidade – foi extrapolada para o teor de gordura na dieta. Se abaixar o colesterol à custa de colestiramina fez cair a incidência de doença coronariana, reduzir seus níveis com dietas pobres em gordura terá o mesmo efeito, disse o coordenador administrativo do estudo.
A repercussão nos EUA foi imediata. Veio na forma de campanhas públicas e uma matéria de capa da revista ‘Time’ intitulada ‘Perdão, é verdade, o colesterol mata’. A conclusão, resultante de meias-verdades científicas, ganhou a imprensa.
Com o advento das estatinas, drogas capazes de reduzir dramaticamente os níveis de colesterol, estudos confirmaram que o uso desses medicamentos diminui discretamente a incidência de doença coronariana e prolonga a vida daqueles que têm risco alto de infarto do miocárdio.
Qualquer pessoa com mínimo discernimento científico, entretanto, sabe que a eficácia de uma abordagem medicamentosa sobre qualquer parâmetro bioquímico do sangue jamais pode ser extrapolada para intervenções dietéticas sem a realização de estudos comparativos que envolvam milhares de participantes acompanhados criteriosamente durante muitos anos, para que o número de eventos finais adquira significância estatística. O NIH calcula que estudo com tais características custaria pelo menos US$ 1 bilhão, quantia que nenhum país quer investir.
Muitas das idéias que deram origem às normas para cortar gordura animal na dieta nasceram da epidemiologia comparada. Desde os anos 50, sabemos que finlandeses e escoceses, por exemplo, que ingerem dietas ricas em leite e carne vermelha, são vítimas de altos índices de ataques cardíacos. A dieta tradicional japonesa, rica em peixe, teria efeito protetor e explicaria a baixa incidência de ataques cardíacos no Japão.
Tal lógica, no entanto, sempre encontrou sérias contradições:
1) Os franceses, por exemplo, consomem muita manteiga, creme de leite, queijos e carne, mas apresentam baixos índices de doença coronariana. Este fenômeno, o ‘paradoxo francês’, tem sido atribuído ao consumo de vinho tinto, fatores genéticos, tamanho das porções da cozinha francesa, etc.
2) Mais contundente do que o paradoxo francês, ainda, é o caso dos povos do sul da Europa, que vivem no Mediterrâneo. Com a melhora das condições econômicas após a 2ª Guerra, essas populações fizeram como outras na mesma situação: aumentaram o consumo de carne, leite e queijos. O que aconteceu com a mortalidade por doença cardíaca? Diminuiu. Caiu proporcionalmente ao crescimento no consumo de gordura. O mesmo está acontecendo com a ocidentalização atual da dieta no Japão, ao contrário do que se supôs.
3) Num trabalho realizado na cidade francesa de Lyon, 605 pessoas que sobreviveram a ataque cardíaco prévio foram tratadas com medicamentos para reduzir os níveis de colesterol, e divididas em dois grupos de acordo com a dieta adotada. O primeiro foi aconselhado a manter dieta semelhante à recomendada aos americanos, com redução drástica da quantidade de gordura animal. O segundo, a adotar uma dieta do tipo mediterrâneo: mais cereais, pão, legumes e frutas, peixe, sem exagero de carne vermelha. Nas duas dietas o conteúdo de gordura animal ingerido diariamente variou de forma significativa: os que adotaram o padrão mediterrâneo consumiram em média quantidades maiores. Apesar disso, os níveis de colesterol total, HDL e LDL, permaneceram idênticos. Quatro anos mais tarde, os resultados indicavam a ocorrência de 44 ataques cardíacos na dieta americanizada, contra 14 na dieta mediterrânea. Classicamente, no caso dos povos do Mediterrâneo, o benefício tem sido atribuído ao uso do óleo de oliva. Esta conclusão foi aceita sem questionamento pelos médicos, e divulgada para o grande público como verdade científica. Tanto que a maioria das dietas para reduzir colesterol prescreve uma ou duas colheres de azeite diárias. A influência do óleo de oliva na prevenção de infarto, porém, está longe de ser esclarecida. Voltemos ao artigo da ‘Science’. Dimitrios Trichopoulos, epidemiologista de Harvard, sugere que o paradoxo mediterrâneo talvez esteja além do óleo de oliva. Trichopoulos pergunta: para que esses povos usam o azeite? Para temperar saladas e cozinhar legumes. Como essas populações ingerem cerca de meio quilo de vegetais por dia, em média, quem garante que não sejam eles os protetores?
Pelo mesmo raciocínio poderíamos perguntar se os finlandeses e escoceses, povos que vivem em lugares gelados, inóspitos para a produção de vegetais, não teriam tantos infartos pela falta destes na dieta, e não pelo excesso de gordura.”
Dr. Drauzio Varella
Gazeta Mercantil – Fim de Semana, 03/08/01, Páginas 1 e 2