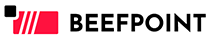Elas promovem quinto leilão no RS
6 de setembro de 2002Mesmo fracas, geadas acabam com o pasto em MS
9 de setembro de 2002Mandioca: uma alternativa como recurso forrageiro
Introdução
Apesar da pouca disponibilidade de informações na literatura sobre a utilização da cultura da mandioca, tanto a parte aérea como ao própria raiz ou sub-produtos da indústria de processamento na alimentação de ruminantes, especialmente quando conservada na forma de silagem ou feno, tentaremos de uma forma breve levantar algumas considerações que acreditamos poder ser importante para aumentar a possibilidade de sucesso com essa alternativa alimentar.
A mandioca (Manihot esculenta, Crantz) é uma planta originária do Brasil, sendo que o seu cultivo precede o descobrimento, pois foram encontradas pelos portugueses nas roças indígenas. Devido a sua capacidade para produção de alimentos, rusticidade e facilidade de cultivo, a mandioca se expandiu rapidamente nos trópicos dos diferentes continentes para o consumo humano, animal e de matéria-prima para a indústria.
Segundo EDISON VALVASORI, pesquisador do Instituto de Zootecnia (APTA/SAA), a planta e seus subprodutos apresentam muitas vantagens aos produtores rurais. Eles podem comercializar a raiz e fazer a silagem da rama ou das duas. Além de ser colhida o ano todo, é uma planta rústica que não necessita de adubação tão pesada como a produção de milho, se adapta em solos pobres, apresenta excelente aceitação pelos animais. O pecuarista estará oferecendo uma ração de alto valor nutritivo (ramas e folhas) com até 18% de proteína bruta. Bovinos de corte podem ganhar até 1.200 g/dia, enquanto uma vaca de 500 kg pode produzir 10 kg de leite/dia.
O Brasil é o segundo maior produtor de mandioca do mundo, o primeiro é a Nigéria. Estima-se que a área cultivada de mandioca seja de 1,76 milhões de hectares produzindo um montante de 24 milhões de toneladas (IBGE, 2001), sendo que a região Nordeste é a principal produtora (49%), seguida pelas regiões Sul (20%), Norte (18%), Sudeste (9%) e Centro-Oeste (4%).
A mandioca e seus subprodutos na alimentação animal representam excelentes fontes energéticas, que podem substituir o milho na alimentação de ruminantes, principalmente devido a constante oscilação nos preços do produto. Na alimentação animal, pode ser fornecida nas mais variadas formas: raízes frescas, restos de cultura ou parte aérea (hastes e folhas) e subprodutos sólidos (cascas, entrecascas, descartes e farelos). No Brasil a mandioca apresenta uma produção 77% a mais de energia que o milho por unidade de área de plantio, e ainda assim o seu uso é insignificante como componente de rações.

características do cultivo
A propagação da planta da mandioca é feita através de pequenos pedaços de hastes da parte aérea, denominadas de estacas ou manivas. O plantio de hastes de plantas com 10 a 12 meses, ou seja, que tenham completado o ciclo vegetativo, são as mais indicadas para o plantio, devido ao fato de apresentarem mais gemas viáveis. O plantio, para condições da região sudeste, pode ser feito o ano todo, porém aconselha-se aproveitar o período das chuvas. O solo preferencial para o cultivo são os solos com boa profundidade, texturas mais arenosas, com boa aeração, bem drenados e com bom teor de matéria orgânica, possibilitando o desenvolvimento do sistema radicular, além de facilitar a colheita das raízes tuberosas.
O ciclo vegetativo pode variar, dependendo da época de plantio e da variedade da planta, podendo variar de 8 a 12 meses, para variedades de mesa, e de até 24 meses para as destinadas a indústria. A colheita deve ser feita no final do ciclo, quando apresentam maiores quantidades de reserva de amido, o que geralmente ocorre no período de dormência da planta no período de menores temperaturas e chuvas, ou seja, quando as plantas já derrubaram as folhas. A produtividade média do Brasil, segundo dados do IBGE, são de 13.717 kg/ha, porém pode-se atingir valores maiores que 33 t.
A decisão de ensilar a parte aérea deve ser feita preferencialmente antes da queda das folhas, parte mais nobre em relação ao valor nutritivo. Pode-se usar parte das raízes para aumentar o teor de matéria seca da massa ensilada para valores próximos de 30%, recomendados para ensilagem de qualquer forragem. Essa decisão deve ser tomada em função dos preços do produto, ou seja, quando baixos, sacrifica-se as raízes, quando alto, a parte aérea.
componentes tóxicos
Segundo MANELLA (2001), a mandioca apresenta dois compostos químicos, os glicosídeos linamarina e lotaustralina, que geram o ácido cianídrico (HCN), cujos efeitos tóxicos podem resultar em danos neurológicos crônicos, ou até mesmo a morte. Sugere-se que o HCN afeta os animais pela afinidade com o ferro, desta forma interagindo com a hemoglobina para formar a ciano-hemoglobina, impedindo assim o transporte de oxigênio para os tecidos, levando o animal a asfixia. A raiz da mandioca é classificada comumente como brava ou mansa, e ainda pode-se citar as doces que quase não apresentam os precursores do composto.
Classificação:
– Não tóxicas: menos que 50 mg de HCN / kg de raízes frescas
– Pouco tóxicas: de 50 a 80 mg
– Tóxicas: de 80 a 100 mg
– Muito tóxicas: mais que 100 mg
Os compostos cianogênicos estão distribuídos de forma não uniforme em toda a planta, tanto na parte aérea como na subterrânea. As folhas apresentam as maiores concentrações, enquanto que nas raízes, o córtex ou casca grossa, encerra maiores concentrações que a polpa. A concentração de HCN varia com a idade da planta (mais novas são mais tóxicas), bem como as características do ambiente (solo, clima, etc.).
A eliminação total ou parcial do conteúdo de HCN da mandioca e de seus subprodutos podem ser feitos por diversos procedimentos, comuns no processo de industrialização, como a desidratação artificial com temperaturas superiores a 40oC, a cocção em água (cozimento), desidratação por radiação solar (ex: fenação). Quando o material é submetido a desidratação, atingindo 10 a 15% de umidade, o ácido cianídrico é volatilizado.
Com o uso da ensilagem do material, a fermentação da parte aérea elimina as propriedades do ácido e assim pode ser fornecida aos ruminantes sem riscos, conforme afirma VALVASORI (2002), salientando que o HCN não é acumulativo, sendo eliminado através da urina. São as mesmas considerações que fizemos nos artigos sobre sorgo.
parte aérea
A parte aérea da mandioca corresponde a aproximadamente 50% do peso total da planta, sendo constituída pelas folhas, hastes e pecíolos, com valor de proteína de 16%. Cerca de 20% da parte aérea é utilizada para o replantio, desta forma recomenda-se que para a alimentação direta, ensilagem ou fenação, seja fornecido o terço superior da planta, deixando a parte mais grossa e lenhosa para a multiplicação.
No caso de corte mecânico, regular a altura de corte da planta de uma forma a evitar o corte baixo. Plantas mais velhas, assim como nas gramíneas forrageiras, tendem a apresentar menores valores de proteína e maiores teores de fibra, e conseqüentemente menores coeficientes de digestibilidade. Isto se deve principalmente à menor proporção de folhas em relação ao caule. Ou seja, a maior proporção de folhas melhora a qualidade nutricional, pois os valores médios de proteína e fibra são de 25 e 9% respectivamente, enquanto que do caule é 11 e 25%, respectivamente. Dependendo do cultivar os valores de proteína podem variar de 12 a 23%, e a digestibilidade in vitro, de 40 a 60%.
Além do elevado valor energético das raízes devido ao amido, as folhas apresentam uma considerável teor de extrato etéreo (5 a 7% da MS). A proteína também se caracteriza pelo elevado teor de lisina (7,2 g/100 g de PB), porém baixos de metionina (1,7 g/100 g PB) em relação as exigências dos ruminantes. O Quadro 1 apresenta valores de composição da parte aérea da mandioca.
Quadro 1 – Valor nutritivo da parte aérea da mandioca (% da Matéria seca)

Os processos para conservação da parte aérea da mandioca são a fenação, ensilagem, farelo e peletização. Na fenação da parte aérea pode-se cortar a haste principal para obter maior concentração de folhas, e desta maneira maior concentração de proteína. A secagem deve ser feita até o material atingir cerca de 12% de umidade. Após a desidratação o feno pode ser triturado para a formação de farelo, podendo ainda ser peletizado, quando viável economicamente.
A rama da mandioca pode ser ensilada sozinha, ou incluídas nas silagens de gramíneas tropicais. Essa associação com silagem de gramíneas pode ser vantajosa pelo aumento da proteína. Trabalho realizado por Carvalho et al. (1983), citado por Manella (2001), mostrou que a adição de 25, 50 e 75% de ramas de mandioca em silagens de capim elefante melhorou linearmente a fermentação da silagem. A parte aérea de cultivares classificados como “mandiocas bravas”, quando fornecida fresca deve sofrer um emurchecimento mínimo de 24 horas.
Comentário do autor: Da mesma forma que a cana-de-açúcar e o sorgo, parece haver um menor aproveitamento destas culturas na alimentação do que o potencial das mesmas, seja por desconhecimento das vantagens econômicas e culturais, seja pelo fato de certos tabus ou crenças populares sobre intoxicações ou baixos desempenhos. Todas as considerações feitas sobre os processos de ensilagem e fenação em inúmeros outros artigos devem ser avaliados para que se obtenha um produto final com boas características nutricionais.
Um dos principais problemas citados pelos produtores é a grande variação de preço da mandioca, o que tanto estimula quanto desestimula o plantio da mandioca, dificultando um planejamento de receita a médio e longo prazo. A criação de alternativas para o uso da cultura pode ajudar a reduzir essa variação. A associação entre produtores de mandioca e pecuaristas, tanto para a reforma de pastagens quanto pelo uso da parte aérea para fenação ou ensilagem podem vir a ser uma alternativa interessante para maior incremento do uso desta cultura na alimentação de ruminantes.
A utilização de cultivares resistentes as principais doenças, principalmente bacterianas, deve ser uma prioridade, o que se tem obtido com a introdução de cultivares provenientes da região de Ubatuba, conforme trabalhos conduzidos na região de Castilho pela Prefeitura local e a CATI. A disponibilidade de fecularias na região permite que se obtenha ainda, além da parte aérea, de outros subprodutos com potencial de utilização da alimentação de ruminantes, porém apresentam problemas com transporte devido aos altos teores de umidade (casca, farelo de raspas, farinha de varredura ou farelo de bagaço).
A associação com outras culturas também deve ser avaliado com bastante atenção, já que pode viabilizar a utilização desta alternativa. Como comentado em outros artigos, a falta de cooperativismo ou associativismo entre os produtores podem ser um dos empecilhos para o avanço de muitas alternativas, já que a mandioca é comum em pequenas propriedades, consideradas na maiorias das vezes, como familiares.
bibliografia consultada
MANELLA, M. Q. Subprodutos da mandioca. Capítulo 4 do Primeiro Curso Online Manual Prático de Utilização de Alimentos Alternativos na Alimentação de Ruminantes. 2001. Curso Oferecido pelo site MilkPoint.
VALVASORI, E. Dia de Campo sobre Silagem de Mandioca para Bovinos. Engenheiro Coelho, SP. Evento realizado pelo Instituto de Zootecnia (APTA/SAA) e Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI). 12 de julho de 2002.