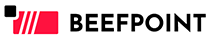Brasil será maior exportador de carne pelo segundo ano
28 de outubro de 2004Coréia do Sul volta a importar carne bovina do México
29 de outubro de 2004Perdas de superfície e o manejo de silos horizontais
Por Lucas José Mari1 e Luiz Gustavo Nussio2
1. INTRODUÇÃO
Silos horizontais (i.e. trincheira ou superfície) são geralmente atrativos em razão da maior economia no armazenamento de forragens sob a forma de silagem. Entretanto, sua conformação determina grande superfície de exposição e de troca com o ambiente. Além disso, segundo Pitt (1990), outros fatores influenciam nas perdas de superfície nesse tipo de silos, como: teor de matéria seca (MS) da forragem ensilada, permeabilidade das paredes dos silos trincheira, superfície exposta à aeração durante o enchimento, tempo de armazenamento, taxa de retirada durante a alimentação dos animais e eficiência de vedação.
Em se tratando de perdas, o fator mais importante é, sem dúvida alguma, o grau de anaerobiose alcançado durante o processo fermentativo (Woolford, 1990; McDonald et al., 1991). Quando a vedação do silo não for adequada, o oxigênio e a umidade externa podem adentrar ao silo e afetar tanto o processo de ensilagem quanto a qualidade da mesma durante a estocagem e/ou fornecimento.
A espessura da lona plástica tem sido a característica física mais valorizada para a escolha do filme (PVC ou polietileno). A proteção da lona contra danos resultantes da radiação direta depende das propriedades físicas da lona, que por sua vez, podem variar durante a fase de estocagem (Savoie, 1988).
2. RESULTADOS DE PERDAS EM SILOS HORIZONTAIS
De acordo com Ashbell & Kashanci (1987), as perdas de superfície são maiores nas faces laterais, próximas às paredes (76%) e menores ao centro (16%). McLaughlin et al. (1978) reportaram perdas de MS da ordem de 60% nos estratos superficiais dos silos (25 cm superiores) e as perdas foram reduzidas para 22% da MS no estrato compreendido entre 25 e 50 cm de profundidade dos silos.
Em um trabalho de pesquisa que durou 4 anos e que visava avaliar as perdas superficiais de silos horizontais a equipe da Universidade de Kansas, liderada pelo Professor Keith Bolsen, avaliou-se amostras retiradas em três pontos do perfil dos silos. O modelo utilizado foi a equação proposta por Dickerson et al. (1992), que é observada a seguir:
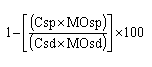
Onde:
Csp: teor de cinzas na silagem preservada;
MO sp: teor de matéria orgânica na silagem preservada;
Csd: teor de cinzas na silagem deteriorada;
MO sd: teor de matéria orgânica na silagem deteriorada.
Essa relação acima descrita tem boa correlação com as perdas observadas em painéis de silos, uma vez que na deterioração da silagem, a matéria orgânica (MO) é consumida em fermentações indesejáveis e combustão, mas a quantidade absoluta de cinzas (ou minerais) permanece pouco variável, como pode ser observado na Figura 1. A elevação no teor de cinzas em silagem deteriorada pode representar um grande aumento de perdas em matéria orgânica. Por exemplo, assumindo que em 100 g de silagem bem preservada houvesse 5% de cinzas e 95% de matéria orgânica, após a deterioração a amostra se reduziria a metade, ou seja, 50 g, com os mesmos 5 g de cinzas. Assim, a amostra preservada conteria 95 g de MO e a deteriorada 45 g de MO, então 45/95 = 47,4% de MO recuperada, sendo que 52,6% de MO teria sido perdida.
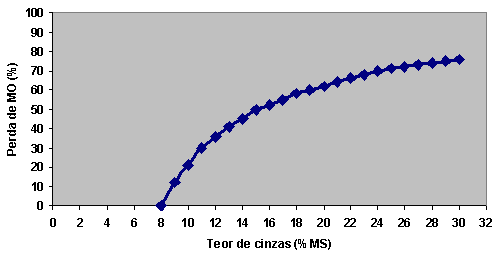
Figura 1 – Relação entre teor de cinzas da silagem e perda adicional de da matéria orgânica em silagens de milho. Fonte: Dickerson et al. (1992).
3. PRÁTICAS DE MANEJO EM SILOS HORIZONTAIS
De acordo com Bolsen (2002), existem quatro práticas que podem e devem auxiliar o manejo de silos horizontais. Essas práticas consistem em:
1. Alcançar alta densidade da silagem;
2. Vedação eficiente;
3. Manejo de retirada adequado;
4. Descarte da silagem deteriorada.
3.1 Alcançar alta densidade da silagem
A densidade e o teor de MS da cultura determinam a porosidade da silagem e esta afeta a taxa com que o oxigênio pode penetrar na massa ensilada. Além disso, a alta densidade reduz o custo de estocagem da forragem, por amortização da estrutura e redução das perdas por deterioração, como pode ser observado pela Tabela 1.
Tabela 1 – Perdas de MS em função da densidade de silagens de alfafa.
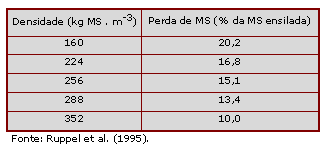
Para se alcançar altas densidades das silagens, que diminuirão as perdas de nutriente e de MS durante a ensilagem, estocagem e fornecimento, o produtor pode:
- Aumentar o intervalo de descarregamento das cargas de forragem que chegam ao silo para dedicar maior tempo e pressão de compactação à massa;
- Aumentar o lastro do trator compactador, com pesos extras na frente ou no terceiro ponto do veículo ou mesmo encher o pneu com certa quantidade de água para elevar a pressão de compactação;
- Adicionar outros tratores para compactarem a massa garantindo o tempo mínimo de compactação de 1 a 3 minutos por tonelada de forragem fresca;
- Diminuir a espessura da camada descarregada no silo para, no máximo, 15 a 25 cm e utilizar lâminas frontais e traseiras nos tratores que efetuarem compactação;
- Fazer o abaulamento da massa para auxiliar a compactação e favorecer o escoamento do acúmulo de água de superfície sobre a lona plástica.
3.2 Vedação eficiente
Em silos do tipo trincheira ou mesmo de superfície não cobertos as perdas no primeiro metro de profundidade podem exceder os 60-70% (Bolsen et al., 1993). O material mais comumente utilizado para cobertura de silos é o polietileno, sendo outro aspecto importante a proteção do mesmo contra raios ultra-violetas. A cobertura com terra ou pneus apresenta bons resultados na proteção da lona plástica e no auxílio da vedação, mas certamente representa grande demanda de mão-de-obra em sua execução.
3.3 Manejo de retirada adequado
A retirada de silagem para fornecimento aos animais deve ser tal que o painel permaneça perpendicular para minimizar a área exposta ao ar. A taxa de retirada deve ser suficiente para evitar a deterioração e o superaquecimento da massa. A recomendação comumente observada é de 15 a 30 cm de retirada do painel por dia. Entretanto, em condições de alta umidade e/ou temperatura elevada a camada deve ser maior (40 cm/dia) para se evitar a deterioração aeróbica, sobretudo em silagens conservadas sob alta umidade (silagens de grãos-úmidos). Pitt & Muck (1993), mostraram que a retirada de uma camada mais espessa do painel levou a queda no percentual de deterioração da massa ensilada, como observado na Tabela 2.
Tabela 2 – Perda e MS em função da camada de silagem retirada.
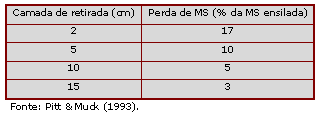
3.4 Descarte da silagem deteriorada
Muitas vezes depara-se em propriedades com situações como a ilustrada na Figura 2.

Onde se encontra a silagem deteriorada? A análise da Figura 2 sugere que o destino da mesma pode ser: (a) o produtor desta fazenda possui um bom manejo e a silagem deteriorada é descartada em local apropriado ou (b) a silagem deteriorada não é separada e é fornecida aos animais sem cuidado algum. Por mais que o produtor tenha se esmerado em vedar bem o silo é inevitável a ocorrência de um mínimo nível de perda por deterioração. Em um trabalho clássico Bolsen (2002) verificou a queda de digestibilidade dos nutrientes e de consumo de rações que continham diferentes proporções de volumosos deteriorados em relação ao total de volumoso fornecido. As rações foram formuladas com 90% de silagem de milho e 10% de concentrado e fornecidas a novilhos fistulados no rúmen. As proporções de silagem deteriorada variaram de 0, 25, 50 e 75% em relação ao total do volumoso e os resultados estão mostrados na Tabela 3.
Pode-se concluir que ao oferecer silagens deterioradas impõe-se sobre o animal uma importante limitação na ingestão de energia, parte pelo menor consumo e também pela baixa digestibilidade da porção ingerida.
Tabela 3 – Efeito do percentual de silagem de milho deteriorada sobre a ingestão de MS e a digestibilidade de nutrientes.
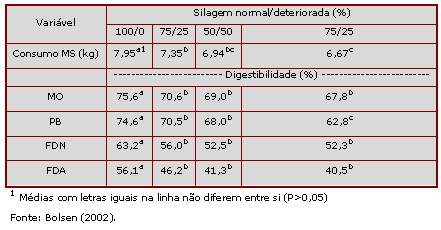
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ASHBELL, G.; KASHANCI, Y. Silo losses from wheat ensiled in bunker silos in a subtropical climate. Journal of the Science of Food and Agriculture, v.40, p.95-98, 1987.
BOLSEN, K. K. Bunker silo management: four important pratices. 2002.
BOLSEN, K.K.; DICKERSON, J.T.; BRENT, B.E.; SONON JR., R.N.; DALKE, B.S.; LIN, C.J.; BOYER JR., J.E. Rate and extent of top spoilage in horizontal silos. Ournal of Dairy Science, v.76, p.2940-2962, 1993.
DICKERSON, J.T.; ASHBELL, G.; BOLSEN, K.K.; BRENT, B.E., PFAFF, L.; NIWA, Y. Losses from top spoilage in horizontal silos in western Kansas. Kansas Agricultural Experimental Station, n.651, p.127/129, 1992.
McDONALD, P.J.; HENDERSON, A.R.; HERON, S.J.E. The biochemistry of silage. 2.ed. Mallow: Chalcombe Publications, 1991. 340p.
McLAUGHLIN, N.B.; WILSON, D.B.; McGUFFEY, R.K.; SCHINGOETHE, D.J. Evaluation of covering, dry matter and preservative at ensiling of alfalfa in bunker silos. Journal of Dairy Science, v.66, p.1057-1062, 1983.
PITT, R.E. Silage and hay preservation. Cornell University, Ithaca, NY, NRAES-5, 1990.
RUPPEL, K.A.; PITT, R.E.; CHASE, L.E.; GALTON, D.M. Bunker silo management and it is relationship to forage preservation on dairy farms. Journal of Dairy Sicence, v.78, p.141-153, 1995.
SAVOIE, P. Optimization of plastic covers for stack silos. Journal of Agricultural Engineering Research, v.41, p.65-69, 1988.
WOOLFORD, M.K. The detrimental effects of air on ensilage: a review. Journal of Applied Bacteriology, v.68, p.101-105, 1990.
_______________________________________________________________
1 Médico Veterinário, Mestre, Doutorando em “Ciência Animal e Pastagens” – USP/ESALQ.
2 Professor Adjunto do Departamento de Zootecnia – USP/ESALQ – Piracicaba, SP.