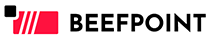Nova Zelândia lança campanha de promoção da carne bovina em Hong Kong de US$ 30 milhões
18 de julho de 2003Rondônia recebe certificado de área livre de aftosa
21 de julho de 2003Suplementação a pasto: uma alternativa na produção de novilho precoce
Por Harold Ospina Patino1 e Fabio Schuler Medeiros2
Introdução
Nos últimos anos, o setor de produção e comercialização de carne bovina brasileiro vem apresentando profundas mudanças procurando adaptar-se às duas maiores exigências dos mercados consumidores: competitividade e qualidade do produto.
Apostando na produção orientada pela demanda, a pecuária de corte está trilhando o caminho da obtenção de um produto com a quantidade, qualidade e preço que o mercado consumidor exige. Neste processo, o objetivo final é poder colocar no prato do consumidor um produto que preencha seus anseios relacionados com a segurança alimentar, normas de qualidade, volume de produção, uniformidade de produto e impacto ambiental. Estes aspectos vêm adquirindo tal grau de importância que países como Austrália, Nova Zelândia e EUA já desenvolveram mecanismos para identificar, conhecer e manipular os pontos críticos de controle, ao longo de toda a cadeia produtiva, de modo a garantir a qualidade do produto oferecido e consumido.
Embora na última década o consumo e comercialização de carne bovina tenha experimentado uma profunda retração em decorrência do consumo substitutivo de carne (aves e suínos), do surgimento de problemas sanitários (doença da vaca louca e a febre aftosa) e da consolidação das barreiras alfandegárias, impostas pelos principais países importadores, existem claros sinais de recuperação deste setor. Dados apresentados pelo Instituto Internacional de Investigação sobre Políticas Alimentares (IFPRI) (DELGADO, 1999) mostram projeções segundo as quais entre 1997 e 2020 os países em desenvolvimento serão responsáveis pelo crescimento na produção e consumo de carne, com taxas de incremento anuais da ordem de 4%.
No Brasil, entre 2000 e 2002, o rebanho bovino de corte cresceu a uma taxa de 3% ao ano que o situa hoje como o maior rebanho comercial do mundo com, aproximadamente, 168 milhões de cabeças. Neste mesmo período, este setor experimentou um incremento de 6% no número de animais abatidos (32,5 vs 34,5 milhões de cabeças) que representou um aumento de 7,6% na produção de carne (7,1 vs 6,6 mil toneladas de equivalente carcaça). Desta carne produzida, aproximadamente13% está sendo exportada, representando um aumento de 62% no volume embarcado (961 vs 592 mil toneladas de equivalente carcaça) e sendo responsável por um aumento de 37% na receita (US$ 1.086.479 vs US$ 792.455). Apesar da concorrência da Argentina e União Européia no comércio internacional de carne bovina, o Brasil aumento as exportações graças a abertura de novos mercados como China e Rússia.
Estes números ressaltam o importante papel que a pecuária de corte esta desempenhando na economia brasileira, sendo responsável por mais de 30% do PIB no ano de 2001 e consolidando o país como um dos líderes em termos de competitividade e qualidade no mercado internacional de carnes. Estes resultados são decorrentes dos avanços no campo sanitário (manutenção das zonas livres de febre aftosa com vacinação), da implantação do Sistema Brasileiro de Identificação e Certificação de Origem Bovina e Bubalina (SISBOVI), regulamentado em janeiro de 2002 pelo MAPA e do impulso dado a exportação pelo programa de promoção da carne bovina brasileira no exterior (Brazilian Beef) com o apoio da Agência de Promoção das Exportações (APEX).
Apesar do enorme potencial da pecuária bovina de corte, esta ainda apresenta taxas de desfrute na faixa de 21% as quais são muito baixas quando comparadas as da Argentina (27%) e EUA (37%) e incompatíveis com um país que almeja um lugar de destaque na comercialização internacional de carne. Um outro grande desafio é aumentar o consumo de carne pois, apesar de Brasil apresentar um mercado potencial de 176 milhões de habitantes, seu consumo per capta desde 1995 encontra-se estagnado na faixa dos 35 kg/pessoa/ano, muito baixo para um país que comercializa mais de 85% da carne que produz no mercado interno. Isto basicamente é decorrente da baixa renda familiar sendo que ações destinadas a melhorar distribuição da renda que resultem em aumentos de, apenas, 5 kg no consumo per capital de carne demandarão do setor produtivo um aumento na produção de 3,8 milhões de cabeças, difícil de ser preenchida nas atuais condições de produção (ZIMMER e FILHO, 1997). Estes fatos demonstram que a pecuária de corte brasileira apresenta um enorme potencial de crescimento, diferentemente de outros países onde este potencial já foi atingido.
O lugar de destaque que o Brasil ocupa a nível mundial como produtor e exportador de carne é decorrente da maciça incorporação de tecnologias de produção. Entre os avanços tecnológicos incorporados aos sistemas de produção, vale a pena citar a utilização de forragens de melhor qualidade (principalmente do gênero Panicum), a consolidação de grandes programas de melhoramento genético animal e a utilização da suplementação como ferramenta de manejo alimentar para contornar a estacionalidade na disponibilidade e qualidade das forragens.
Hoje, o Brasil pode orgulhar-se de ter enormes vantagens competitivas devido a existência de condições ímpares para produzir carne bovina de qualidade a pasto, em sistemas economicamente viáveis, ecologicamente limpos e sustentáveis. A predominância de sistemas de produção pastoris que integram práticas conservacionistas no manejo dos recursos naturais (diferimento de pastagens, plantio direto, lotação, etc.) torna possível a exploração da imagem de eco-eficiência na geração de produtos com valor ambiental agregado, que garantem a biodiversidade, diminuem a produção de gases do efeito estufa (CO2 e metano) e produzem carne com um perfil nutricional mais adequado à saúde humana (colesterol, ácidos graxos, etc) (OSPINA et al., 2002).
O caminho para enfrentar os atuais desafios da produção e comercialização de carne bovina é adaptar a pecuária de corte a sistemas de produção de ciclo curto, trabalhando com animais precoces (sexualmente, no crescimento e na terminação) e eficientes nos diferentes ambientes do vasto território brasileiro. Evidentemente, estes sistemas de produção terão que estar direcionados a utilização de forragens como ingrediente básico das dietas pois são estes os que mais se aproximam das atuais demandas do consumidor. Nestas condições, a otimização nutricional da dieta dos animais é um pré-requisito para maximizar o consumo, a digestão e o metabolismo dos nutrientes contidos nas pastagens e a suplementação pode prestar uma grande contribuição a este objetivo.
Precocidade
O crescimento é definido como o incremento ordenado de órgãos e tecidos estruturais que acompanham as mudanças em forma e composição das partes do corpo do animal (desenvolvimento). Este crescimento ocorre como conseqüência do aumento no número (hiperplasia) e tamanho (hipertrofia) das células que compõem os tecidos ósseo, muscular e gorduroso.
O crescimento de todas as espécies pode ser representado através de uma curva sigmóide relacionando o peso vivo (Y) e a idade do animal (X). Esta curva apresenta três fases diferenciadas quanto a seu comportamento: Na primeira fase, que vai do nascimento até o desmame, se observa um crescimento acelerado, a segunda fase vai do desmame até o ponto de inflexão da curva (máximo crescimento) representa a desaceleração no crescimento e a fase final representa a estabilização do crescimento ou maturidade (Figura 1). Na fase embrionária e de pré-puberdade ocorre um intenso desenvolvimento do tecido ósseo, a seguir o tecido muscular e finalmente, na pós-puberdade o tecido adiposo.
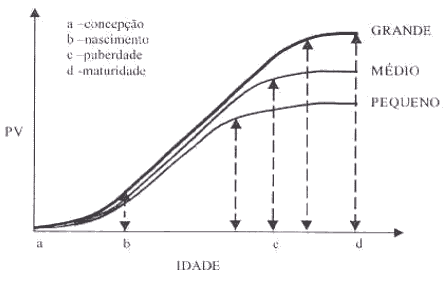
Figura 1. Curvas de crescimento de bovinos de diferentes biótipos (SILVEIRA, et al., 2000)
A precocidade pode ser definida como a rapidez de desenvolvimento dos tecidos ou taxa de crescimento, que permite atingir uma determinada proporção do peso adulto (LANA,1997) e a expressão das características relacionadas com a puberdade. A puberdade representa o período da vida de um animal no qual a primeira reprodução torna-se possível caracterizado pela ovulação na fêmea e a produção de sêmen com um número suficiente de espermatozóides maduros para fertilizar um óvulo no macho (LAWREWNCE e FOWLER, 1997). Nesta fase as atividades endócrinas responsáveis pelo crescimento dos tecidos ósseo e muscular deixam de ser controladas pelos hormônios do crescimento e passam a ser controladas pelos hormônios sexuais. Na curva de crescimento a puberdade pode ser atingida num ponto intermediário entre a fase de crescimento acelerado e a inflexão da curva.
A precocidade é uma característica animal que pode ser encontrada em qualquer um dos três componentes básicos do sistema de produção de gado de corte: cria, recria e terminação.
A precocidade sexual, encontrada na cria, é considerada a ferramenta de manejo que poderá, de forma mais rápida, aumentar a eficiência, rentabilidade e competitividade da pecuária de corte, através de aumentos na taxa de desfrute (POTTER, 1997). Esta resposta é decorrente do fato da cria utilizar mais de 70% do total de nutrientes exigidos por um animal terminado. A precocidade sexual permite encurtar o período improdutivo em que os animais apresentam elevadas demandas nutricionais sem retorno produtivo.
Não menos importantes, nos sistemas de ciclo curto, as precocidades no crescimento e na terminação deverão ser abordadas com uma visão ampla que integre as características e objetivos do sistema de produção. Como foi brilhantemente colocado por FRIES e ALBUQUERQUE (1999), na obtenção de um genótipo bovino precoce e adequado a nossos sistemas de produção é preciso alterar simultaneamente as três precocidades (sexual, crescimento e terminação) de modo a alterar as formas da curva de crescimento e desenvolvimento, reduzindo ou mantendo constantes os tamanhos adultos e a idade e peso de terminação.
Alguns dos fatores mais importantes na determinação da precocidade são: a taxa de crescimento, magnitude do crescimento (tamanho adulto para atingir a maturidade corporal), composição do crescimento (relação entre osso, músculo e gordura) e eficiência de crescimento (conversão de alimento em produto animal).
A taxa de crescimento é determinada pelo potencial genético para síntese de tecido magro, que em condições ambientais e de manejo (alimentar e sanitário) não limitantes é determinada pelo biótipo animal e pelo consumo. Neste sentido apesar de animais de biótipo maior apresentarem maiores taxas de crescimento estes geralmente são mais tardios quanto a precocidade, em função de seu maior peso adulto.
Em sistemas de produção que não apresentem limitantes à expressão do potencial genético de produção, os biótipo ou raças grandes ganham mais peso, apresentando boa terminação, sem excesso de gordura e com boa conversão alimentar. Por outro lado em situações de pastejo onde ocorre a estacionalidade na oferta e tipo de nutrientes este tipo de animal ganha peso abaixo de seu potencial, podendo em situações extremas, perder peso e condição corporal. A utilização de biótipos grandes para produzir novilhos precoces pesados precisa de ajustes nutricionais (melhoramento da quantidade e qualidade das pastagens ou utilização de suplementos) que permitam superar o limitante energético da terminação em pastagem. Estas respostas são decorrentes, principalmente, dos altos custos energéticos da mantença, que podem representar mais de 50% do custo total. A comparação de raças bovinas de corte a um mesmo peso mostra que os animais de maior porte são fisiologicamente mais jovens e apresentam maiores exigências nutricionais do que animais de biótipo pequeno.
O acumulo de tecidos no ganho de peso responde a uma seqüência pré-determinada com as seguintes prioridades: órgãos e vísceras, tecido esquelético, tecido muscular e tecido adiposo. No tecido adiposo em primeiro lugar é depositada a gordura intermuscular, depois a interna, a subcutânea e finalmente a intramuscular. As gorduras subcutânea e intramuscular são as mais importantes no sentido de definir o grau de terminação do animal e a qualidade da carne, no entanto são as últimas a serem depositadas dentro da carcaça. O principal fator que afeta a composição do ganho de peso é o nível nutricional, apesar da taxa de crescimento, biótipo, idade e sexo do animal exercerem alguma influencia. Maiores taxas de ganho de peso estão relacionadas com maiores deposições de gordura na carcaça, cuja magnitude dependerá do peso, idade e sexo do animal. Independente do peso, aumentos na taxa de ganho estão associados com rendimentos decrescente e exponencial na deposição de proteína e gordura, respectivamente. Contudo, em ambientes onde o ganho de peso apresenta limitações a deposição de gordura é mais afetada do que a deposição de proteína, particularmente em animais jovens que acumulam pouca gordura.
O ganho de peso por Mcal de EM consumida ou eficiência de ganho depende da taxa de ganho de peso e da composição química dos tecidos depositados. Na tabela 2 pode ser observado que animais com maiores taxas de ganho tiveram maiores eficiência em função da diluição das exigências de mantença.
Tabela 2. Exigências de energia metabolizável (EM) de novilhos Angus desmamados aos 7 meses de idade com 180 kg de peso e abatidos com 420 kg de peso, segundo o NRC (1996)
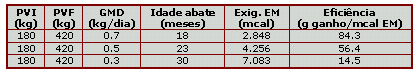
A deposição de tecido na forma de músculo é quatro vezes mais eficiente do que a deposição de gordura, pois para cada 10 kcal de energia metabolizável disponível são sintetizados 2,8 e 0,7 g de músculo e gordura, respectivamente (LANA, 1997). Então animais magros são eficientes porém apresentam carcaças de pouca aceitabilidade pelos frigoríficos. Esta situação é comumente encontrada em sistemas de produção de novilhos precoces a pasto que utilizam biótipos animais tardios.
Ao comparar a eficiência de crescimento é preciso definir claramente qual é o critério utilizado na comparação. Na tabela 3 é possível observar que animais de maior biótipo só foram mais eficientes quando comparados ao mesmo peso, pois seu ganho de peso é basicamente de proteína. Quando a comparação foi feita pelo mesmo grau de acabamento os biótipos menores foram mais eficientes devido a diluição da mantença e maior deposição de gordura.
Tabela 3. Efeito do peso de abate e do grau de acabamento de animais sobre a eficiência de ganho de peso de vários genótipos (LANA, 1997).
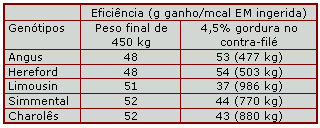
A melhora da baixa eficiência energética no crescimento de novilhos precoces, direta ou indiretamente é uma conseqüência de: alterações na utilização de energia em funções que se bem são essenciais para o animal não resultam em síntese de tecido, no catabolismo de tecidos sintetizados e no gasto de mais de 50% de energia na síntese do tecido visceral que representa só 8 a 10% do peso do animal e tem baixo valor econômico (DI MARCO, 1988).
A incorporação da precocidade produtiva nos sistemas de produção (cria e terminação) permitirá comercializar carne de melhor qualidade, aumentar a taxa de desfrute, aumentar a produtividade e eficiência pela liberação de áreas de pastejo para outras categorias e um maior giro de capital.
Os dois principais fatores determinantes da qualidade da carne de novilhos precoces terminados em pastejo são: a maciez e o perfil de ácidos graxos presentes na gordura.
A maciez é entre as características da carne (suculência, sabor e cor) aquela que mais que influencia a satisfação do consumidor. A maciez é determinada pela degradação da fibra muscular, a quantidade de tecido conetivo e o grau de marmoreio, sendo estes fatores susceptíveis a variações genéticas ou ambientais. Segundo CUNDIFF (1992) os efeitos genético e ambiental podem controlar 30 e 70 % da variação na maciez, respectivamente. A sugerida maior maciez da carne de raças taurinas quando comparadas a raças indianas (CROUSE et al, 1989) está relacionada com a atividade do complexo enzimático calpaína-calpastatina durante a proteólise do músculo após o abate (KOOHMARAIE et al., 1991). O avanço na maturidade fisiológica dos animais está relacionada com a menor maciez da carne devido a alterações na matriz muscular. O músculo apresenta uma estrutura complexa formada por fibras musculares contidas num tecido conetivo de alta resistência, que compõe 2 a 10% do peso da proteína muscular. Este tecido conetivo está composto por colágeno, uma proteína que da resistência, e elastina, uma proteína que da elasticidade. O colágeno é encontrado circundando os feixes musculares (epimísio), as fibras musculares (endomísio) e entre estas (perimísio). A idade do animal não afeta o conteúdo de colágeno no músculo porém muda sua estrutura interna. Nos animais jovens, as ligações do colágeno são termolábeis (pontes de hidrogênio) e portanto de fácil ruptura durante a cocção. Já com o avanço da maturidade estas ligações são substituídas por pontes dissulfeto, ligações mais estáveis ao aquecimento e que tornam a carne mais resistente e insolúvel quando submetida a cozimento (Figura 2).
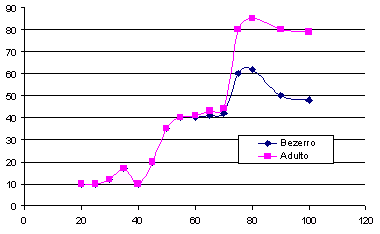
Figura 2. Alterações na força de cisalhamento durante a cocção de carne de animais com diferentes idades (KUBOTA, 2000)
O nível de gordura na carcaça é importante pelo efeito que tem sobre o resfriamento, a cor, o sabor e a maciez da carne. O marmoreio da carne está fortemente associado com a maciez, palatabilidade, preço e grau de deposição de gordura na carcaça.
Apesar de nenhum estudo epidemiológico ter encontrado alguma relação causa:efeito entre o consumo de carne, o nível de colesterol no sangue e a presença de doenças cardiovasculares (DCV), continua-se sugerindo que o consumo de carne bovina e prejudicial à saúde humana. Alguns estudos recentes têm sugerido que os ácidos graxos poliinsaturados da família ômega-3, presentes na carne bovina, podem ter efeitos benéficos à saúde humana, contribuindo na prevenção de doenças crônicas tais como o câncer e DCV (WILLIAMS, 2000).
A carne de animais terminados em pastejo, quando comparada com a de animais terminados com dietas de confinamento apresenta menores teores de gordura e colesterol e maiores teores de ácidos graxos poliinsaturados (GARCIA e CASAL, 1992). Isto ocorre porque as pastagens são ricas em ácido linolênico (C18:3 n -3), um ácido que, apesar de ser parcialmente hidrogenado no rúmen, escapa do rúmen sendo absorvido e transformado nos outros componentes da família dos ácidos graxos ômega-3 (ácido linoleico conjugado, ácido eicosapentaenóico, ácido docosahexaenóico, etc.). Por outro lado as dietas de confinamento, ricas em grãos, fornecem lipídios ricos em ácidos omega – 6 que podem causar doenças quando presentes em elevadas concentrações no sangue em relação aos ômega-3 (REARTE, 1999).
FRENCH et al. (2000) trabalhando com novilhos cruzados de raças continentais pesando em média 504 kg mostrou que a uma mesma taxa de ganho de peso, a diminuição do concentrado na dieta dos animais diminuiu linearmente a concentração intramuscular de ácidos graxos saturados e a relação ácidos graxos poliinsaturados ômega-6:ômega-3. Paralelamente encontrou aumentos lineares na relação ácidos graxos poiinsaturados:saturados e na concentração de ácido linoleico conjugado. Segundo os autores o perfil de ácidos graxos na carne bovina pode ser melhorado do ponto de vista da saúde humana pela incorporação de mais pasto na dieta dos animais.
Além da qualidade da carne, a produção de novilho precoce afeta profundamente as variáveis físicas dos sistemas de produção. Como pode ser observado na tabela 3, a redução da idade de abate de 42 para 26 meses resulta em aumentos de 34% no número de fêmeas em reprodução e de 25% na taxa de desfrute.
Tabela 3. Efeito da idade de abate sobre alguns parâmetros de produção envolvendo as fases de cria, recria e engorda (Adaptado de CEZAR e EUCLIDES FILHO, 1996).
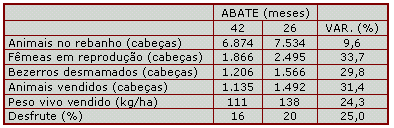
A implantação de um sistema de produção de novilho precoce em pastejo requer que outros componentes do sistema estejam perfeitamente alinhados: redução da idade das fêmeas ao primeiro parto, alta eficiência reprodutiva, adequado controle sanitário, boas pastagens tanto em qualidade como em quantidade, programas estratégicos de suplementação e canais de comercialização que valorizem o produto (alianças mercadológicas).
A Associação Brasileira de Novilho Precoce (ABNP) define o novilho precoce utilizando três características:
a) Peso da carcaça: superior a 200 kg para novilhos e machos sem castrar e maior ou igual a 180 kg para fêmeas.
b) Idade do animal: até 30 meses ou dois dentes definitivos para novilhos e novilhas e zero dentes (dentição de leite) para machos sem castrar.
c) Acabamento: 3 a 10 mm de espessura na camada de gordura medida na altura da 12 costela.
A conhecida estacionalidade no tipo e conteúdo de nutrientes das pastagens fazem com que em muitas situações as características definidas anteriormente sejam difíceis de serem atingidas. A suplementação como ferramenta de manejo alimentar poderá nos ajudar a superar estas limitações.
Suplementação na produção de novilho precoce
Em sistemas dinâmicos, como a produção de ruminantes em pastejo, CIBILIS et al. (1997) definem a suplementação como o ato de complementar, completar ou suprir nutrientes num processo composto por três unidades: o animal, a pastagem e o manejo, tendo como objetivo a obtenção do maior desempenho físico e econômico.
A suplementação consiste portanto no fornecimento estratégico de nutrientes com o objetivo de otimizar a digestão e o metabolismo dos nutrientes contidos nas pastagens consumidas pelos ruminantes. Os principais efeitos da suplementação ocorrem sobre o consumo e a digestibilidade da forragem, como resultado de alterações no ambiente ruminal e na população microbiana, os quais afetam os fatores determinantes da digestão ruminal, o fluxo de da digesta para fora do rúmen e a disponibilidade de nutrientes para absorção no intestino.
Estes efeitos podem ser obtidos em cada uma das fases nas quais esta dividida a curva de crescimento do novilho precoce. Para facilitar a abordagem dividiremos a curva em crescimento pré-desmame e crescimento pós-desmame.
Crescimento pré-desmame
O crescimento pré-desmame ocorre entre a concepção e o desmame, podendo ser dividido em crescimento pré-natal e crescimento pós-parto.
O crescimento pré-natal corresponde ao desenvolvimento embrionário e ocorre com maior intensidade nos três últimos meses da prenhes. Este crescimento é responsável ao parto por 6 a 8% do peso adulto sendo uma característica determinada geneticamente. Na tabela 4 é possível observar que vacas de biótipos maiores produzem terneiros de maior peso ao parto. Ter um bezerro pesado ao parto é um bom ponto de partida na produção de novilho precoce porém isto traz junto outros problemas relacionados com o rebanho de cria (dificuldade de parto, distocia e perda de animais). A suplementação de vacas de corte no pré-parto não é uma prática muito utilizada apesar de alguns trabalhos (MARSTON et al., 1995) terem demonstrado que pode aumentar o peso do bezerro ao parto e à desmama.
Tabela 4. Peso de bezerros ao parto e produção de leite de diversas raças bovinas de corte (Adaptado do NRC, 1996)
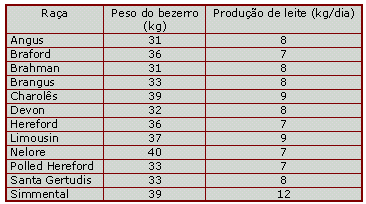
O crescimento pós-parto compreende o período entre o parto e o desmame e em condições normais dura 7 meses. A taxa de crescimento e por conseqüência o peso do bezerro ao desmame está determinada pela produção de leite da vaca, a qual apresenta uma ampla variação entre raças (tabela 4). O fator que mais afeta a eficiência de produção nesta fase é o consumo de alimento, pois ele afeta a produtividade e reprodução das vacas determinando os kg de bezerro desmamados por kg de vaca exposta. Em situações com elevados níveis nutricionais e alto consumo, as vacas de biótipo maior apresentam altas taxas de concepção, produzem mais leite e desmamam bezerros mais pesados. Por outro lado, em situações típicas dos campos de cria, onde os níveis nutricionais e o consumo de alimento são menores, as vacas com biótipos de menores são mais eficientes pois ainda que desmamem bezerros mais leves apresentam maiores taxas de re-concepção. Como pode ser observado na figura 3, a baixos níveis de consumo de MS as vacas raças britânicas foram mais eficientes do que as raças continentais, porém quando consumo de MS superou os 6000 kg/vaca/ano estas raças mostraram maior potencial produtivo.
Na produção de novilho precoce, mais do que em outro tipo de produção, é de fundamental importância identificar o potencial genético adequado a uma dada condição de produção (recursos alimentares, os sistemas de cruzamento, mercado, etc.).
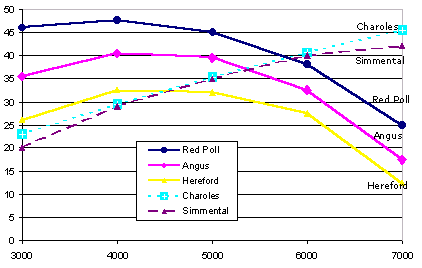
Figura 3. Eficiência biológica (g bezerro desmamado/kg MS consumida/vaca exposta) (Jenkins e Ferrell, 1994)
A suplementação de bezerros em aleitamento utilizando cocho privativo onde só os bezerros têm acesso, prática também conhecida como “creep-feeding”, além de permitir aumentos no peso dos bezerros ao desmame e na lotação, melhora o desempenho reprodutivo das vacas. O leite materno é de vital importância para o desenvolvimento do bezerro até os 60 dias pós-parto. A partir dos 90 dias o bezerro já se encontra plenamente capacitado para digerir forragens porém sua capacidade de consumo ainda é limitada. Neste momento sua taxa de crescimento vai depender mais da qualidade do pasto e de seu nível de consumo, do que do leite materno consumido. A utilização do creep-feeding a partir dos 60 dias de idade tem como objetivo estimular o desenvolvimento da capacidade fermentativa do rúmen e contribuir com nutrientes para o desenvolvimento do bezerro.
Segundo TAYLOR (1994) as vantagens do creep-feeding estão relacionadas com o maior peso à desmama, a possibilidade de utilizar-lo quando o preço do bezerro é maior do que o preço dos suplementos, permite a expressão do potencial genético de crescimento particularmente em animais terminados em confinamento, diminui o estresse do bezerro à desmama e previne a perda de peso e condição corporal de vacas possibilitando bons índices de fertilidade. O mesmo autor coloca como desvantagens: o custo do ganho de peso adicional pode ser maior do que a receita, não é recomendada para fêmeas porque pode prejudicar a futura produção de leite, as diferenças entre animais que receberam e não receberam creep-feeding tendem a desaparecer ao sobreano, em muitas situações o suplemento apresenta uma conversão muito baixa e o preço de comercialização pós-desmama de animais que receberam ou não suplemento apresenta pouca diferença.
A utilização de creep-feeding permite 30 a 40 kg a mais de peso à desmama do que o desmame convencional (tabela 5). Para isto normalmente são utilizados suplementos com 17 a 18% de PB e 75 a 80% de NDT, fornecidos em quantidades de 1,0 kg/animal/dia, com uma conversão esperada de 2:1 em ausência de efeitos substitutivos.
Tabela 5. efeito da suplementação do bezerro em aleitamento sobre a idade e peso de abate e o rendimento de carcaça (Adaptado de SANCEVERO, 2000)
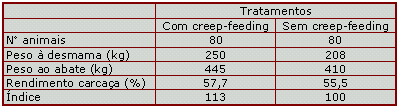
Uma das maiores preocupações dos produtores é como viabilizar economicamente a prática do creep-feeding. Neste sentido é importante monitorar a conversão alimentar porque o objetivo é adicionar nutrientes a dieta do bezerro e não substituir aqueles que ele naturalmente obtém do leite e da forragem consumida. Como foi demonstrado por SAMPAIO et al. (2002), a restrição no consumo de suplemento pode tornar o ceep-feeding uma técnica economicamente viável, que corrige as prováveis deficiências nutricionais mantendo o consumo de forragem pelo animal. Segundo estes autores, a adição de 10% de NaCl ao concentrado fornecido no creep-feeding proporcionou maior ganho de peso corporal em relação aos animais que não receberam suplemento tornando economicamente viável a adoção desta técnica.
Crescimento pós-desmame
A fase de crescimento pós-desmame vai desde a desmama até o abate do animal e pode ser divido em dois períodos: da desmama até os 350 kg e a engorda entre 350 e 420 kg, com variações devidas a sexo, idade, grau e sistema de acabamento.
As condições ambientais predominantes na maioria das regiões do Brasil assim como o crescimento das forragens fazem com que a estação de parição esteja compreendida entre agosto e novembro, a estação de monta de novembro a fevereiro e a desmama aos 7 meses de idade entre abril e maio.
A pecuária de corte Brasileira encontra-se estabelecida em seis grandes ecossistemas: tropical úmido (região norte), semi-árido (região nordeste), cerrados e pantanal (região centro-oeste), mata atlântica (região sudeste) e subtropical (região sul) os quais apresentam uma ampla variabilidade de clima, solo e vegetação. Apesar dos sistemas de produção encontrados nestes ecossistemas apresentarem as mais variadas características possíveis, em função das condições locais de produção, infra-estrutura, aporte de insumos e comercialização, todos eles apresentam o fato comum de utilizarem as pastagens como substrato básico na alimentação dos animais.
A utilização racional das pastagens é de fundamental importância para obtenção de índices zootécnicos que garantam a otimização da produtividade por animal e por área e, principalmente, que sejam adequados do ponto de vista econômico. Este manejo racional das pastagens é difícil de atingir porque as forragens apresentam uma marcada produção estacional, que pode gerar uma grande diferença na capacidade de suporte entre os períodos ótimos e críticos para o crescimento das pastagens. A conseqüência imediata desta diferença é o baixo desempenho por animal devido que 80% da produção anual de matéria seca ocorre no período de outubro a março (primavera-verão), sendo o período de abril a setembro (outono-inverno), caracterizado por alta umidade e baixa temperatura no sul (sub-trópico), e por seca na região do centro-oeste (tropical). A pesar desta estacionalidade na produção das pastagens causar baixo desempenho dos animais, alguns trabalhos têm mostrado que seu potencial produtivo pode ser aumentado com práticas de manejo tais como o ajuste de lotação, introdução de novas espécies, adubação nitrogenada, e integração lavoura-pecuária (MARASCHIM, 2000).
A exploração da pecuária de corte no RS é realizada quase que exclusivamente sobre pastagens nativas as quais ocupa aproximadamente 16 milhões de hectares ou 60% da área do estado. Estas pastagens apresentam como principal característica sua ampla biodiversidade em função da interação de fatores relacionados com o clima, o solo, a flora e a fauna. Do ponto de vista da produção animal, são consideradas pastagens estivais que concentram sua maior produção e qualidade na primavera-verão (tabela 6).
Tabela 6. Produção e valor nutritivo da pastagem nativa no RS
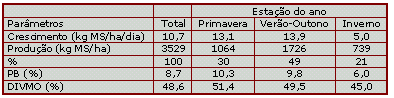
Tanto a baixa disponibilidade de MS como o baixo nível nutricional das pastagens nativas, principalmente durante o outono-inverno, determinam o famoso boi sanfona que perde no inverno 20% do peso que ganha na primavera, aumentando a idade de abate e prejudicando a qualidade da carne e a rentabilidade do sistema (figura 7). Nestas condições, a utilização das pastagens cultivadas (de inverno e/ou de verão) e da suplementação (protéica e/ou energética) são estratégias nutricionais que ajudam a contornar o problema da estacionalidade na produção e qualidade das pastagens.
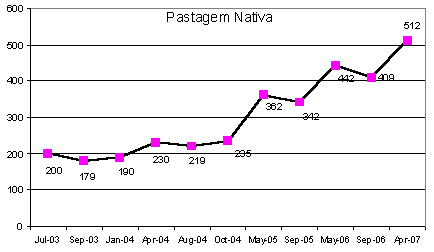
Figura 4. Curva de crescimento de novilhos criados em campo nativo (Adaptado de DEL DUCCA et al., 1987)
Na tabela 7 é possível observar que a suplementação do campo nativo durante o outono-inverno e/ou a utilização de pastagens cultivadas podem diminuir a idade de abate dos novilhos a valores compatíveis com os exigidos para o novilho precoce.
Tabela 7. Efeito da estratégia alimentar sobre o ganho de peso e sobre a idade de abate de bezerros desmamados aos 210 dias com 180 kg de peso vivo e abatidos com 420 kg.
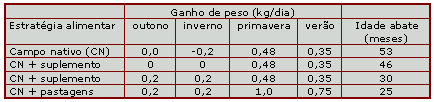
Animais em pastejo apresentam como primeiro e principal limitante nutricional à produção o consumo de energia. Por sua vez as proteínas e os minerais são os primeiros fatores limitantes para o crescimento e atividade dos microrganismos ruminais. Num programa de suplementação de bovinos de corte em pastejo, a suplementação mineral é considerada a primeira prioridade econômica e sua correta utilização tem um papel fundamental na otimização nutricional das dietas (OSPINA et al., 2003). A suplementação protéica é considerada a segunda prioridade econômica e quando adequadamente utilizada permite aumentos entre 15 e 45% no consumo de MS e 2 a 5 unidades percentuais na digestibilidade, que garantem ganhos de peso entre 200 a 300 g/amimal/dia.
As misturas múltiplas, também conhecidas como sais proteinados, são suplementos que surgiram no Brasil por volta de 1987, sendo hoje considerados como um dos responsáveis pelo grande crescimento da pecuária de corte na última década. Estes suplementos ajudam a contornar a acentuada diminuição na qualidade das forragens que ocorre nas diversas regiões do Brasil durante o inverno e que ocasionam baixo desempenho produtivo e reprodutivo dos animais (LOPES, 1998).
Os sais proteinados estão compostos basicamente por uma fonte de nitrogênio não protéico (uréia, amiréia), uma fonte de proteína verdadeira (farelos de soja, arroz, trigo, etc.), uma fonte de carboidratos solúveis (milho, sorgo, mandioca, etc.), um regulador de consumo (NaCl: 15-30%) e uma mistura mineral. Este tipo de suplemento permite consumos entre 0,1 e 0,2% do peso vivo e ganhos de peso entre 200 e 300 gramas / animal / dia.
Como pode ser observado na tabela 8, os sais proteinados apresentam bons resultados bioeconômicos particularmente em situações onde as pastagens apresentam boa disponibilidade (2000 a 2500 kg MS/ha), baixos níveis de proteína (< 7% PC) e elevados teores de fibra (> 70% FDN).
Tabela 8. Efeito de diferentes suplementos protéicos sobre o ganho de peso de novilhos mantidos em pastagem de Brachiaria diferida durante a seca (Adapatado de ZANETTI et al., 2000)
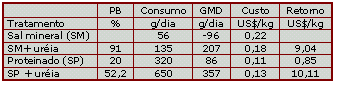
As respostas aditivas encontradas com a utilização de sais proteinados durante o inverno ocorrem porque nesta época as forragens propiciam baixa disponibilidade ruminal de nutrientes tais como nitrogênio e fósforo, que limitam o consumo e a digestibilidade das forragens. Desta forma, é possível estimular a fermentação ruminal, aumentando a oferta de energia e proteína para o animal, através do maior consumo de matéria orgânica digestível e síntese de biomassa microbiana (OSPINA et al., 2002).
Apesar de atualmente existirem um grande número de sais proteinados disponíveis no mercado, muitos deles têm sido formulados de forma empírica, sem considerar a relação entre os nutrientes contidos nas pastagens e sua variação estacional. Geralmente, este tipo de suplemento é formulado utilizando fontes de N de rápida disponibilidade ruminal porém seu nível de utilização dependerá da disponibilidade de energia (MO degradável no rúmen) para o trabalho de síntese de microflora ruminal. Vários trabalhos têm mostrado que as melhores respostas nutricionais dependem da otimização da relação entre o nitrogênio degradável no rúmen e a matéria orgânica digestível contida nas forragens e nos suplementos (KOSTER et al., 1996; MATHIS et al., 2000; BODINE et al.,2001).
COCHRAN et al. (1998) depois de fazer uma extensa revisão de trabalhos sobre suplementação de volumosos de baixa qualidade mostraram que o nível de nitrogênio degradável no rúmen que otimiza o consumo de matéria orgânica digestível (energia) equivale a 10% do consumo de total de matéria orgânica digestível (figura 5). O NRC (1996) sugere que este valor seja mantido em 13% para dietas de melhor qualidade e entre 7 e 11% para dietas a base de volumoso de baixa qualidade.
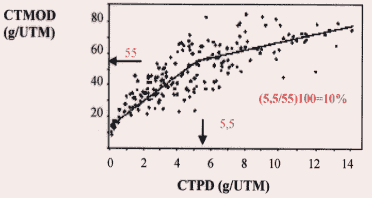
Figura 5. Relação entre o consumo total de matéria orgânica digestível e o consumo de proteína degradável no rúmen (COCHRAN, 1998).
Na prática, o que tem-se observado nas formulações dos suplementos protéicos é a utilização de relações perto de 13% independentemente do tipo e qualidade da pastagem. Isto possibilita uma maior utilização de uréia: uma fonte concentrada e barata de N que pode ser incorporada facilmente nos suplementos. Nestas condições, o excesso de amônia ruminal gerado pela suplementação tem que ser metabolizado no fígado e excretado na forma de uréia pelos rins, com gasto de energia que poderia estar sendo utilizada para preencher as exigências de mantença e ganho de peso. Como pode ser observado na tabela 9 , a substituição de farelo de soja por uréia num sal proteinado fornecido durante 84 dias a novilhos Nelore pastando B. brizantha cv. Marandú, com disponibilidades superiores a 4,5 ton/há, diminui o ganho de peso e a relação benefício custo da suplementação.
Tabela 9. Composição do sal proteinado e seu efeito sobre o consumo de suplemento, ganho de peso e relação beneficio custo (Adaptado de LOPES et al., 1999)
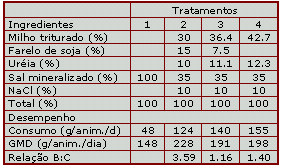
A otimização da utilização de volumosos de baixa qualidade através da suplementação protéica com fontes de N degradável (NNP ou verdadeiro) deve levar em conta que as bactérias celulolíticas precisam de fatores de crescimento denominados ácidos graxos voláteis ramificados (isoácidos) que são gerados durante a desaminação ruminal da proteína verdadeira (RUSELL at al,. 1992). Alguns trabalhos têm mostrado que os suplementos protéicos precisam ter pelo menos 25% do nitrogênio na forma de proteína verdadeira (KOSTER et al., 1997) para otimizar a digestão e o consumo de volumosos de baixa qualidade.
Trabalhos realizados no Laboratório de Nutrição de Ruminantes (LANUR) da UFRGS (MALLMANN et al., 2003) mostraram que em novilhos inteiros da raça Hereford alimentados com feno de baixa qualidade, a inclusão de níveis crescentes de uréia no suplemento (0, 9.23, 18.42, 27.67 e 36.83 g uréia/100kg PC) apresentou um comportamento quadrático em relação ao consumo de matéria orgânica digestível (CMOD), ou seja aumentou o CMOD até determinado nível onde ocorreu a máxima resposta e então iniciou-se um declínio, sem que a digestibilidade das frações nutricionais fosse afetada de forma significativa (Tabela 10). Estes dados confirmam a hipótese que a eficiente utilização da suplementação protéica de volumoso de baixa qualidade precisa levar em conta a otimização de relações nutricionais que favoreçam o desenvolvimento, crescimento e trabalho dos microrganismos ruminais.
Tabela 10: Digestibilidade e consumo de algumas frações nutritivas em novilhos recebendo suplementos com níveis crescentes de uréia (MALLMANN et al. 2003)
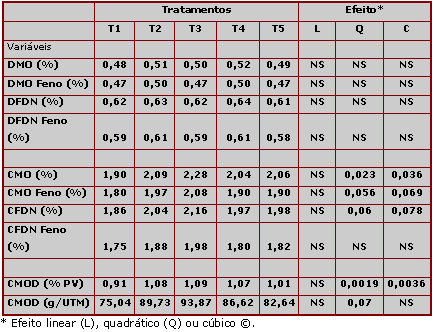
Devido ao custo dos ingredientes a suplementação energética é considerada a 3ª prioridade econômica. Dependendo das condições de produção (pastagens, tipo de animal, clima, etc) é possível encontrar ganhos de peso entre 100 e 200 g por cada kg de NDT suplementado.
A suplementação energética tem sido utilizada pelos produtores tanto em sistemas de produção baseados em pastagens nativas quanto em pastagens cultivadas para permitir maximizar o desempenho e melhores ganhos por área. Em sistemas baseados em pastagens cultivadas é uma ferramenta de manejo que permite diluir os custos de implantação das mesmas, maximizando a lucratividade do investimento. Outra importante contribuição da suplementação energética é a otimização do uso do nitrogênio no ambiente ruminal, o qual normalmente encontra-se em excesso nas pastagens cultivadas de estação fria, permitindo um melhor aproveitamento deste nutriente e reduzindo seu desperdício e impacto poluente sobre o meio ambiente.
Porém, o fornecimento de alimentos energéticos foi por muito tempo considerado como pernicioso a digestibilidade dos alimentos volumosos sob a alegação de que a queda no pH ruminal, provocada pela inclusão do concentrado à dieta, reduziria a atividade das bactérias fibrolíticas, reduzindo a digestibilidade da celulose e hemicelulose (KUNKLE et al., 1999). Estes efeitos de interação entre os nutrientes da dieta são conhecidos como efeitos associativos, os quais podem ser perniciosos (depressão), ou positivos (substituição e adição). A meta que deve ser sempre almejada é interferir o mínimo possível no aproveitamento da fração fibrosa da dieta pois constitui a fonte mais abundante e barata de energia para a produção de ruminantes em pastejo.
Recentemente, em um trabalho realizado no LANUR para estudar os efeitos associativos da suplementação energética, SILVEIRA (2002) trabalhando com animais alimentados com feno de média qualidade (9,5%PB e 81,3%NDT) suplementado com 1% do PC de milho moído, forneceu níveis crescentes de proteína degradável no rúmen (PDR) com o objetivo de reverter os efeitos negativos da suplementação energética sobre a digestibilidade da fração fibrosa da dieta. Os tratamentos experimentais foram: T1 – feno + mistura mineral; T2 – feno + 1 % de Milho moído + mistura mineral; T3 – T2 + 12,4 g de uréia/100 kg PC; T4 – T2 + 25,4 g de uréia/100 kg PC e T5 – T2 + 38,5 g de uréia/kg PC. Os resultados do trabalho são apresentados na tabela 11.
Tabela 11 Efeito de níveis crescentes de suplementação com PDR sobre o consumo de matéria orgânica (CMO), digestibilidade da matéria orgânica (DMO), digestibilidade da matéria orgânica do feno (DMOfeno), consumo de matéria orgânica digestível (CMOD) e relação PDR:MOD observada. (SILVEIRA, 2002)
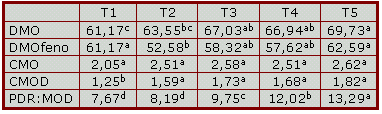
O trabalho demonstrou a forte depressão na digestibilidade (DMO e DMOfeno) quando foi introduzida a suplementação energética (T2), depressão esta que foi completamente revertida através da suplementação com níveis adequados de PDR (T5), também BODINE et al. (2000) trabalhando com volumoso de baixa qualidade suplementado com milho (0,75%PC) foi capaz de reverter os efeitos negativos da suplementação energética sobre a digestibilidade da forragem através da suplementação com PDR.
OSPINA et al (2003) trabalhando com volumoso de alta qualidade e níveis crescentes de suplementação com milho moído (0, 0.4, 0.8 e 1.2%PC), em uma situação onde o suprimento de PDR não foi limitante para o crescimento microbiano observou efeitos associativos do tipo substitutivo-aditivo sobre a digestibilidade da fração fibrosa da dieta e obteve um aumentos lineares e significativos no CMOD.
Portanto, em forragens de média a baixa qualidade a falta de nitrogênio pode ser um fator mais importante do que a queda no pH ruminal na determinação dos efeitos associativos negativos. Nestas condições a ruminação e tamponamento do líquido ruminal ajudam a diminuir os efeitos associativos negativos da suplementação energética sobre a digestão dos volumosos. Já em forragens de alta qualidade (pastagens cultivadas de inverno) o em dietas onde são utilizadas elevadas quantidades de grãos (confinamento) o tamponamento e pH ruminal podem ser fatores mais importantes devido à menor ruminação e maior taxa de fermentação ruminal dos componentes das dietas (HORN e McCOLLUM, 1987).
Em um trabalho publicado recentemente, BODINE e PURVIS (2003) estudaram o efeito de diferentes tipos de suplementação fornecido a animais em condições de pastejo de forragens de baixa qualidade (7,4%PB, 75%FDN). Os autores submeteram os animais a quatro tipos de suplementação: T1 – Suplemento energético balanceado, T2- Suplemento energético desbalanceado, T3 – Suplemento protéico e T4- Controle. Os principais resultados do experimento são apresentados na tabela 12.
Tabela 12 Efeito de diferentes tipos de suplementação sobre o desempenho de animais em pastejo (BODINE e PURVIS, 2003)
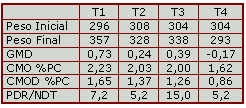
Estes resultados destacam a importância do ajuste nutricional dos suplementos energéticos. Observa-se uma redução no GMD de 0,49 kg/d provocado pelo desbalanço na relação PDR:MOD provocando uma grande ineficiência no aproveitamento da dieta pelos animais e reduzindo marcadamente a viabilidade econômica da suplementação.
Comentários finais
A produção de novilho precoce em pastejo representa a grande oportunidade que tem o Brasil para comercializar carne de qualidade em mercados de maior valor agregado. Se bem esta carne continuará sendo uma commodity cabe a nos agregar-lhe valor, incorporando nas estratégias de marketing e comercialização características vantajosas próprias a nossos sistemas de produção em pastejo.
Para esta produção ser desenvolvida de forma eficiente é preciso identificar corretamente as condições dos sistemas de produção e fazer os ajustes necessários durante o processo de modo a poder comercializar o produto que o consumidor demanda. É preciso lembrar que as pastagens são ecossistemas que apresentam limitações energéticas do ponto de vista da produção animal e portanto, o biótipo animal a ser explorado sempre deverá ser uma preocupação. Nestas condições é possível produzir de forma eficiente carcaças leves com boa terminação ou mais pesadas com pouca terminação, porém cada vez mais o mercado demanda carcaças pesadas e bem terminadas que só poderão ser obtidas em certos ecossistemas de pastejo e/ou com suplementação.
Diante dos dados apresentados neste e em outros trabalhos a cerca do tema, é preciso que fique claro o conceito de que a suplementação de ruminantes em pastejo deve ser encarada como um sistema complexo que compreende não apenas o animal e a pastagem, mas também os microorganismos do rúmen, os quais possuem necessidades específicas e que qualquer programa de suplementação que não esteja preocupado com este último aspecto estará lançado a própria sorte.
A suplementação e uma ferramenta de manejo alimentar, que pode permitir melhorar o desempenho bioeconômico dos sistemas de produção de carne, possibilitando a geração de produtos de melhor qualidade para o consumo humano, diminuindo a emissão de gases de efeito estufa e garantindo a sustentabilidade do ecossistema pastoril. Os suplementos de terceira geração terão que incorporar em sua formulação soluções que permitam atingir um ou mais dos desafios citados anteriormente utilizando para isto conceitos da nutrição de precisão que permitam otimizar o ambiente ruminal para digestão da fibra contida nas forragens.
Referências bibliográficas
BODINE, T. N. PURVIS II, . Effects of supplemental energy and/or degradable intake protein on performance, grazing behavior, intake, digestibility, and fecal and blood indices by beef steers grazed on dormant native tallgrass prairie Journal of Animal Science, 81: 304-317. 2003.
BODINE, T. N. PURVIS II, ACKERMAN, C.J.;GOAD, C.L. Effects of supplementing prairie hay with corn and soybean meal on intake, digestion, and ruminal measurements by beef steers. Journal of Animal Science, 78: 3144-3154. 2000.
BODINE, T. N. PURVIS II, LALMAN. D.L. Effects of supplement type on animal performance, forage intake, digestion, and ruminal measurements of growing beef cattle. Journal of Animal Science, 79: 1041-1051. 2001.
CESAR, I.M.; EUCLIDES FILHO, K. Novilho precoce: reflexos na eficiência e economicidade do sistema de produção. EMBRAPA-CNPGC, Campo Grande. 31p. 1996.
CIBILIS R.; MARTINS, D.V.; RISSO, D. Que es suplementar? In: MARTINS, D.V. (Ed.) Suplementación estrategica para el engorde de ganado. Serie Técnica Nº 83. Montevideo; INIA. 54p. 1997.
COCHRAN, R.C.; KÖSTER, H.H.; OLSON, K.C.; HELDT, J.S.; MATHIS, C.P.; WOODS, B.C. Supplemental protein sources for grazing beef cattle. Proceedings of 9th Annual Florida Ruminant Nutrition Symposium. Dairy and Animal Science Departments, University of Florida. pp. 123-136. 1998.
CROUSE, J.D.; CUNDIFF, L.V.; KOCH, R.M.; KOOHMARAIRE, M; SEIDEMANN, S.C. Comparison of Bos indicus and Bos taurus inheritance for carcass beef characteristic ad meat palatability. Journal of Animal Science, 67: 2661-2668. 1989.
CUNDIFF, L.V. Genetic selection to improve the quality and composition of beef carcasses. Proc. Recip. Meat. Conf. 46:45. 1992.
DEL DUCCA, L.O.; SALOMONI, E. Alternativas para diminuir a idade de abate de novilhos. Coletânea de Pesquisa de Gado de Corte, EMBRAPA: Bagé, v. 2. pp. 217-219. 1987.
DELGADO, C.; ROSEGRANT, H.; STEINFELD, S.; EHUI, S.; COURBOIS, C. Livestock to 2020. The Next Food Revolution. Food, Agriculture and the Enviroment Discussion Paper Nº 28, IFPRI/FAO/ILRI. International Food Policy Research Institute, Washington, D.C. 1999.
Di MARCO, O.N. Crecimento de vacunos para carne. Mar del Plata, Centro del copiado. 246p. 1998.
FRENCH, P.; STANTON, C.; LAWLESS, F.; O´RIORDAN, E.G.; MONAHAN, F.J.; CAFFREY, P.J.; MOLONEY, A.P. Fatty acid composition, including conjugated linoleic acid, of intramuscular fat from steers grazed grass, grass silage or concentrate-based diets. Journal of Animal Science, 78: 2849-2855. 2000.
FRIES, L.A. e ALBUQUERQUE, L.G. Prenhez aos catorze meses: presente e futuro, elementos do componente genético. In: Penz, A.M.; Afonso, L.O.B.; Wassermann, G.J. (Eds.) Anais dos Simpósios e Workshops. XXXVI Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Zootecnia. Porto Alegre/RS.SBZ. p. 227-239. 1999
GARCIA, P.T.; CASAL, J.J. Lipids in Longissimus muscles from grass or grain fed steers. Proceedings 38th International Congress of Meat Science Technology vol. 2; 53-56. Clermont Ferrand, France. 1992.
HORN, G.W.; McCOLLUM, F.T. Energy supplementation of grazing ruminants. In: JUDKINS, M.B.; CLANTON, D.C.; PETERSEN, M.K.; WALLACE, J.D. (Eds) Proceedings of Grazing Livestock Nutrition Confrence. University of Wayoming, College of Agricultural. pp.125-136. 1987.
JERKINS, T.G.;FERREL, C.L. Productivity through weaning of nine breeds of cattle under varying feed availabilities: I. Initial evaluation Journal of Animal Science, 72: 2787-2797. 1994.
KOOHMARAIRE, M.; WHIPPLE, G.; KRETCHMAN, D.H.; CROUSE, J.D. MERSMANN, H.R. Postmortem proteolysis in longissimus muscle from beef, lamb and pork carcass. Journal of Animal Science, 69: 617 – 627. 1991.
KÖSTER, H. H., COCHRAN, R. C., TITGEMEYER, E. C.; VANZANT, E.S.; ABDELGADIR, I.; St-JEAN, G. Effect of increasing degradable intake protein on intake and digestion of low-quality, tallgrass-prairie forage by beef cows. Journal of Animal Science, 74: 2473 – 2481. 1996.
KÖSTER, H. H., COCHRAN, R. C., TITGEMEYER, E. C. Effect of increasing proportion of supplemental nitrogen from urea on intake and utilization of low-quality, tallgrass-prairie forage by beef steers. Journal of Animal Science, 75: 1393 – 1399. 1997.
KUBOTA, E.H. Colágeno e textura da carne. In: MONTEIRO, EM. (Ed.) Qualidade da carne e dos produtos cárneos. EMBRAPA, CPPSul, Bagé. Pp.41-46. 2000
KUNKLE, W. E., JOHNS, T. J., POORE, M. H., et al. Designing supplementation programs for beef cattle fed forage-based diets. Procedings of the American Society of Animal Science, 1999.
LANA, D.P. Fatores condicionantes e predisponentes da puberdade e da idade de abate. In: Peixoto, A.M.; Moura, J.C.; FARIA, V.P. (Eds). Anais do 4º Simpósio sobre pecuária de corte. Produção do novilho de corte. FEALQ, Piracicaba. pp. 41-78. 1997.
LAWRENCE, T.L.J.; FOWLER, V.R. Growth of farm animals. Cab International, Wallingford. 330p. 1998
LOPES, H.O.S. Suplementação de baixo custo para bovinos. Mineral e Alimentar. EMBRAPA, Brasília. 107p. 1998.
LOPES, HO.S. ; LEITE, G.G.; PEREIRA, E.A.; PEREIRA, G.; SOARES, W.V. Suplementação de bovinos com misturas múltiplas em pastagem de Brachiaria brizantha cv. Marandu no período da seca. Pasturas tropicales 21: 54-58. 1999.
MALLMANN, G.M.; OSPINA, H.P.; SILVEIRA, A. F.; LIMA, L.B.; MEDEIROS, F.S.; KNORR, M.; FIGUEREDO, M.B.; PIVOTO, A. Fornecimento de suplemento com níveis crescentes de nitrogênio não protéico a novilhos de corte consumindo feno de baixa qualidade. 40ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Zootecnia. Santa Maria, RS. 2003 (aceito para apresentação)
MARASCHIM, G. E. Relembrando o passado, entendendo o presente e planejando o futuro. Uma herança em forrageiras e um legado em pastagens. In: JUNIOR, D.N.; LOPES, P.S.; PEREIRA, J.C. (Eds.) Anais dos simpósios e workshops da XXXVII Reunião Anual da SBZ. Viçosa: Sociedade Brasileira de Zootecnia, 2000. pp.113-180.
MARSTON, T.T.; LUSB, K.S.; WETTEMANN, R.P.; PURVIS, H.T. Effects of feeding energy or protein supplements before or after calving on performance of spring-calving cows grazing native range. Journal of Animal Science. 73: 657-664. 1995.
MATHIS, C. P., COCHRAN, R. C., HELDT, J. S., et al. Effects of supplemental degradable intake protein on utilization of medium – to low – quality forages. Journal of Animal Science. 78: 224-232. 2000
NRC, 1996. Nutrient requirements of beef cattle. 7a ed. National academy Press,Washington, DC.
OSPINA, H.P.; SCHAFHAUSER, Jr; KNORR, M.; FERRARI, R.V. LIMA,L.B.; SENGER, C.C.D. Efeito da suplementação com sais proteinados sobre o consumo e a digestibilidade de bezerros alimentados com feno de baixa qualidade. In: XXXIX Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Zootecnia, 2002, Recife, PE. Anais da… Recife, 2002. CD-ROM
OSPINA, H.P.; MEDEIROS, F.S.; MALLMANN, G.M. Desafios da suplementação frente as demandas dos sistemas de produção de bovinos de corte. In: JOSAHKIAN, L.A. (Ed.) Anais do 5º Congresso Brasileiro de Raças Zebuínas. ABCZ, Uberaba, MG. pp. 151-169. 2002.
OSPINA, H. P.; MEDEIROS, F.S.; MALLMANN, G. M.; NEUMANN, M. Efeito do nível de suplementação energética sobre o consumo de matéria orgânica digestível de bovinos. 40ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Zootecnia. Santa Maria,RS. 2003. (Aceito para apresentação).
OSPINA, H.P.; PRATES, E.R.; BARCELLOS, J.OJ. A suplementação ruminal e o desafio de otimizar o ambiente ruminal para digestão da fibra. In: BARCELLOS, J.O.J.; PRATES, E.R.; OSPINA, H.P.; MUHLBACH, P.R.F.(Eds.) A suplementação mineral de bovinos de corte em ambientes subtropicais. Gráfica da UFRGS, Porto Alegre, pp. 99-15. 2003
POTTER, L. Produtividade e análise econômica de um modelo de produção para novilhas de corte primíparas aos dois, três e quatro anos de idade. Porto Alegre, UFRGS, 147 p. Dissertação de Mestrado. 1997.
REARTE, D. H. Sistemas pasroriles intensivos de producción de carne de la región templada. In: Penz, A.M.; Afonso, L.O.B.; Wassermann, G.J. (Eds.) Anais dos Simpósios e Workshops. XXXVI Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Zootecnia. Porto Alegre/RS.SBZ. p. 213-223. 1999
RUSSELL, J.B.; CONNOR, J.D.; FOX, D.G.; VAN SOEST, P.J.; SNIFFEN, C.J. A net carbohydrate and protein system for evaluating cattle diets: I. Ruminal fermentation. Journal of Animal Science, 70: 3551-3561. 1992.
SAMPAIO, A. A. M.; BRITO, R.M.; CRUZ, G.M.; ALENCAR, M.M.; BARBOSA, P.F.; BARBOSA, R.T. Utilização de NaCl no suplemento como alternativa para viabilizar o sistema de alimentação de bezerros em Creep-Feeding. Revista Brasileira de Zootecnia 31: 164-172. 2002.
SANCEVERO, A. B. Obtenção do novilho precoce do bezerro à terminação e avaliação do custo benefício da tecnologia. Informe Agropecuário v21, Nº 205: 76-84. 2000
SILVEIRA, A. C. Produção de novilho superprecoce. In: A produção animal na visão dos brasileiros. MATTOS, W.R.S. (Ed.) Sociedade Brasileira de Zootecnia. FEALQ, Piracicaba. pp. 284 -293. 2000
SILVEIRA, A. L. F. Avaliação nutricional da adição de uréia ao feno suplementado com milho moído. Porto Alegre, 2002, 79f. Dissertação (Mestrado em Zootecnia) – Programa de Pós-Graduação em Zootecnia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2002.
TAYLOR, R.E. Beef production and management decisions. Macmillan Publishing Company, New Yok. 664p. 1994
WILLIAMS, C.M. Dietary fatty acids and human health. Ann. Zootech. 49: 165-180. 2000.
ZANETI, M.A.; RESENDE, J.M.L.; SCHALCH, F.; MIOTTO, C.M. Desempenho de novilhos consumindo suplemento proteinado convencional ou com uréia. Revista Brasileira de Zootecnia 29: 935-939. 2000
ZIMMER, A.H. & EUCLIDES FILHO, K. As pastagens e a pecuária de corte brasileira. Anais… Viçosa. Anais do Simpósio Internacional sobre Produção Animal em Pastejo. p.349-380. 1997.
_______________________________
1Zootecnista, D.Sc. Professor do Dept de Zootecnia – Fac. Agronomia – UFRGS
2Med. Veterinário, Aluno do PPG – Zootecnia – Fac. Agronomia – UFRGS
Palestra apresentada no 1o Simpósio da Carne Bovina: da produção ao mercado consumidor. 28 – 30 de maio de 2003. São Borja – RS