Leilão da Fazenda Sant’Anna completa 15 anos
20 de maio de 2004Confinamento de gado deve aumentar 28% neste ano
24 de maio de 2004Uso de polpa cítrica como fonte alternativa ao milho em confinamento de bovinos de corte
Por Eduardo Menegueli Pereira, Flávio Augusto Portela Santos e Alexandre Mendonça Pedroso1
Nos últimos anos, a pecuária de corte brasileira vem passando por mudanças significativas. A necessidade crescente de intensificação do sistema produtivo tem aumentado a adoção de tecnologias, como manejo intensivo de pastagens, suplementação de inverno, terminação em confinamento e programas de melhoramento genético. O uso do confinamento cresceu nesta última década cerca em 133% (Anualpec, 2002), em conseqüência da necessidade de melhorar a eficiência de produção, qualidade de carcaça e carne.
Bovinos em crescimento e terminação apresentam elevada exigência em nutrientes, principalmente se a velocidade de ganho for alta. Recentemente no Brasil, o aumento no custo de produção de volumosos, a melhoria da qualidade dos animais, a disponibilidade crescente de subprodutos e o surgimento de grandes confinamentos têm aumentado a adoção de dietas com alto teor de concentrado. Geralmente, esse tipo de dieta contém altos teores de carboidratos não fibrosos (CNF), principalmente amido (Gabarra, 2001).
O interesse dos confinadores de bovinos de corte por fontes energéticas alternativas vem crescendo nos últimos anos, e esta tendência se acentua de forma significativa em anos de preços elevados do milho. A inclusão destas fontes energéticas alternativas ao milho, em dietas para bovinos em confinamento, tem como principal objetivo baixar os custos de alimentação, mantendo desempenho satisfatório. Outro benefício da inclusão de subprodutos na dieta, pode ser a redução no teor de amido das dietas ricas em grãos, com concomitante aumento nos teores de fibra digestível, contribuindo para melhoria do ambiente ruminal. Dentre as várias possibilidades, 4 subprodutos da industria alimentícia – Polpa cítrica, Farelo de Glúten de Milho-21, Casca de Soja e Farelo de Trigo – despontam como alternativas interessantes para substituir, pelo menos em parte, o milho das dietas de bovinos em confinamento.
O Brasil é o maior produtor mundial de citros, e a produção nacional de polpa cítrica é da ordem de 1.150.000 toneladas anualmente. A partir da década de 90, as cotações do preço da polpa cítrica no mercado externo e interno caíram, chegando a atingir preços inferiores aos do milho. Isto fez com que a utilização do produto aumentasse consideravelmente no mercado nacional (Assis et al., 2001). Outro fator que a torna um alimento muito atrativo é que seu período de safra coincide com a entressafra de grãos (maio a janeiro), e com a época de maior utilização de concentrados.
A polpa cítrica é um alimento energético que possui características diferenciadas quanto à fermentação ruminal, caracterizando-se como um produto intermediário entre volumosos e concentrados. Ela é originada a partir da fabricação do suco de laranja, e é composta de cascas, sementes e bagaço (Fegeros et al., 1995; Wing, 1982). O subproduto é obtido após duas prensagens, que reduzem sua umidade a 65-75%, e secagem até atingir 90% de matéria seca, para então ser peletizada (Menezes Jr., 1999).
O valor nutricional da polpa cítrica depende da variedade da laranja, da inclusão de sementes e da retirada ou não de óleos essenciais (Tabela 1). Em geral, a polpa é caracterizada pela alta digestibilidade da matéria seca, sendo superior até a do milho laminado (Carvalho, 1995) e por possuir características energéticas de concentrado, e fermentativas ruminais de volumoso (Ezequiel, 2001).
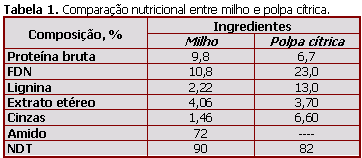
Em função do seu teor praticamente nulo de amido e dos altos teores de pectina e fibra de alta digestibilidade (Tabela 1), a polpa cítrica apresenta um padrão de fermentação ruminal diferente da observada com os grãos de cereais, com menor produção de propionato e lactato e maior produção de acetato (Schalch et al. 2001). A maior proporção ruminal de ácido acético causada pela polpa cítrica faz com que este alimento tenha uma menor chance de propiciar acidose ruminal, diferentemente do que ocorre com as fontes energéticas mais usuais, como os cereais, ricos em amido.
Em trabalho recentemente conduzido no Departamento de Zootecnia da USP/ESALQ, Pereira (2004, dados não publicados) estudou a substiutição do milho moído fino por polpa cítrica (relação milho: polpa igual a 100:0; 50:50; 25:75; 0:100), na dieta de tourinhos da raça Canchim na fase de crescimento e terminação. As dietas continham na base seca, 30% de silagem de cana aditivada e 70% de concentrado (Tabela 2).
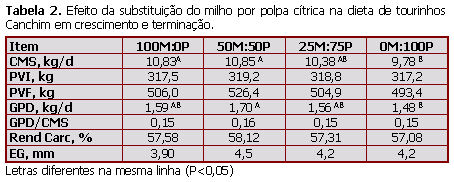
Com base no dados da Tabela 2, podemos concluir que em dietas contendo 30% de silagem de cana e 70% de concentrado na matéria seca, a substituição parcial do milho por polpa cítrica não afetou negativamente o desempenho animal. A substituição total do milho por polpa cítrica resultou em menor GPD, em função de um menor CMS, entretanto, a eficiência alimentar não foi alterada. Assumindo valores de R$230,00/ton para polpa cítrica e R$330,00 para o milho, a inclusão de polpa cítrica reduziu significativamente o custo da arroba produzida em todos os níveis de inclusão. Mesmo com menor GPD no tratamento exclusivo com polpa, houve vantagem na sua inclusão na dieta em substituição ao milho. Estes dados sugerem que o NRC (1996) subestima o valor de NDT da polpa cítrica (82%) em comparação ao milho moído (88%) em dietas com alto teor de concentrado.
Referências bibliográficas
ANUALPEC – ANUÁRIO DA PECUÁRIA BRASILEIRA – FNP Consultoria e Agroinformativos, p. 87, 2002.
ASSIS, A.J. et al. Polpa cítrica em dietas de vacas em lactação 3. Consumo e feito do período de coleta sobre a digestibilidade dos nutrientes. Anais da 38ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Zootecnia. 1057p., 2001.
CARVALHO, M.P. Citros. SIMPÓSIO SOBRE NUTRIÇÃO DE BOVINOS, 6., Piracicaba, 1995. Utilização de resíduos culturais e de beneficiamento na alimentação de bovinos; anais. Piracicaba: FEALQ, p. 153-169, 1995.
CONAB – Estimativa da produção de grãos. http://www.conab.gov.br/safras.asp Acessado em 20/02/2004.
EZEQUIEL, J. M. B. Uso da polpa cítrica na alimentação animal. III Simpósio Goiano sobre Manejo e Nutrição de Bovinos, p. 329-346, 2001, Goiânia-GO.
FEGEROS, K.; ZERVAS, G.; STAMOULI, S.; APOSTOLAKI, E. Nutritive value of dried citrus pulp and its effect on milk yield and milk composition of lactating ewes. Journal of Dairy Science, v.78, p. 1116-21, 1995.
GABARRA, P.R. Digestibilidade de nutrientes e parâmetros ruminais e sangüíneos de novilhos nelore alimentados com fontes protéicas e energéticas com diferentes degradabilidades ruminais. Piracicaba, ESALQ, 2001. Dissertação (Mestrado) – Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo.
HUNTINGTON, G. B. Starch utilization by ruminants: from basics to the bunk. Journal Animal Science, v.75, p.852-867, 1997.
MENEZES JUNIOR, M.P. Efeito do processamento do grão de milho e sua substituição parcial por polpa de citros peletizada sobre o desempenho, digestibilidade de nutrientes e parâmetros sangüíneos de vacas de leite. Piracicaba, ESALQ, 1999. p. 27-29 Dissertação (Mestrado) – Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo.
OWENS, F. N.; SECRIST, D. S.; HILL, W. J.; GILL, D. R. The effect of grain source and grain processing on performance of feedlot cattle: a review. Journal Animal Science. V.75, p.868-879, 1997.
SCHALCH, F.J.; SCHALCH, E.; ZANETTI, M.ª; BRISOLA, M.L. Substituição do milho grão moído pela polpa cítrica na desmama precoce de bezerros leiteiros. Revista Brasileira de Zootecnia, v.30(1), p.280-85, 2001.
WING, J.M. Citrus feedstuffs for dairy cattle. Gainesville: Agricultural Experiment Stations, IFAS, University of Florida, Bulletin 829, p.25, 1982.
_______________________________________
1Eduardo Menegueli Pereira, Flávio Augusto Portela Santos e Alexandre Mendonça Pedroso, Departamento de Zootecnia – Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Piracicaba/SP
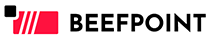


0 Comments
No texto ocorre um relato sobre uma maior produção de ac acético em relação as quantidades de ac propionico e lactato o que favorece umamenor chance de propiciar uma acidode ruminal,porémem relação ao lactato eu concordo porém em relação ao propionato eu gostaria de uma melhor explanação pois na utilização de monensina sódica se proporciona umauma maior produção de propionato que é glicolitico oque tambem auxilia na proteção do ambiente ruminal, em relção a acidose,se possivel eu gostaria de uma melhor explanação,obrigado pela atenção.