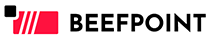O potencial do sorgo como cultura para parodução de silagens. Parte 3/6 – Práticas culturais
4 de agosto de 2000O que se espera do confinamento em 2000
18 de agosto de 2000Sistemas Silvipastoris: alternativa para Amazônia?
João Avelar Magalhães1, Newton L. Costa2, Cláudio C. Ramalho3 e Arnaldo Bracheti2
Nas últimas três décadas, a expansão da atividade pecuária em áreas de floresta foi considerada pioneira para região Amazônica, resultante do desenvolvimento do sistema viário, das pressões políticas e sócio econômicas de outras regiões do país e dos incentivos governamentais. Nestas áreas a formação de pastagens realizada após a derrubada da mata, queima da biomassa florestal, e plantio de forrageiras. No entanto estas pastagens de primeiro ciclo produzem satisfatoriamente até o quinto ano, dependendo do sucesso da sua implantação.
Há evidências de que a substituição de grandes áreas de floresta para a produção pecuária constitui, em muitos países tropicais, prática extremamente destrutiva, com conseqüências desastrosas para a produtividade do solo depois de poucos anos depois de poucos anos, fato do manejo inadequado das pastagens.
Estudos feitos através de satélites, na Amazônia Legal, estima-se que 15 milhões de hectares de mata de diferentes gradientes de densidade já foram derrubados para implantação de pastagens e que, pelo menos, metade da área já foi transformada em pastagens degradadas (Veiga e Serrão, 1990).
Entidades governamentais e preservacionistas têm manifestado intenção de diminuir a taxa de expansão da pecuária em áreas de florestas da Amazônia. Isto, mais a necessidade de, a médio ou longo prazo, acabar com a pecuária itinerante, vêm exigir dos sistemas dos sistemas de produção de bovinos a adoção de um processo mais acelerado de recuperação de pastagens degradadas e de intensificação do uso da terra e mão de obra.
O sistema silvipastoril se refere à exploração na qual se juntam, numa só área, árvores, pastagens e animais vem despertando crescente interesse da classe científica, graças aos benefícios econômicos, sociais e, principalmente, ecológicos. A idéia de integrar animais nas atividades florestais já existe em várias partes do mundo, principalmente na Ásia, África, América Central e alguns países da América do Sul (Hernandez, 1977; Coirini et al., 1991; Kass, 1994; Kozarik et al. 1994; Marlats, et al. 1995; Zuberti, 1995; Dubois et al. 1996).
Apesar dos conhecimentos dos benefícios dos sistemas silvipastoris, no Brasil eles são poucos utilizados, limitando-se a alguns trabalhos em Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Pará (Couto et al., 1988; Baggio, 1983; Ribaski, 1987, Veiga e Serrão, 1990; Guimarães Filho et al., 1995).
A difícil adoção destes sistemas se devem a alguns questionamentos: sustentabalidade e rentabilidade a curto e longo prazo? A espécie arbórea a ser utilizada? Densidade de arvores por hectares? O efeito do sombreamento das árvores sobre as pastagens e animais? Danos dos animais às árvores?
Em algumas partes da Terra, a integração de árvores com pecuária tem sido representada principalmente pelo pastejo de bovinos e ovinos em subosque de plantio florestais e de cultivos perenes. A experiência desses locais tem mostrado que é possível obter lucros adicionais com a produção animal, além do controle do crescimento da vegetação herbácea indesejável, sem afetar significativamente a produção do componente arbóreo.
Em Portugal, plantações de Quercus suber e Q. rotundifolia são utilizados por ruminantes e suínos, num sistema agrosilvipastoril integrado, em que se aproveitam frutos, gramíneas e leguminosas (Nunes et al. 1993). Na República Domicana, um sistema silvipastoril envolvendo Guazuma ulmifolia, Prosopis juliflora e pastagem natural (Uniola virgata) é praticado por agricultores de vários municipios. Neste sistema, as árvores são utilizadas para sombra e alimentação de bovinos e caprinos (CONIF, 1991)
No Sudoeste americano, uma expressiva área de pastagem sob Pinus taeda vem sendo utilizada há várias décadas por bovinos (Grelen, 1978) . Este sistema tem demonstrado sua viabilidade socioeconômica ao longo dos anos. No Chile, a prática de sistemas silvipastoris já é amplamente utilizada pelos pequenos e grandes produtores do semi-árido, principalmente com bovinos e ovinos em bosques nativos de Acacia caven, Atriplex e Prosopis sp. cujos os resultados econômicos são satisfatórios (Severino, 1994). No Pará há evidências que fazendeiros e pesquisadores estão recuperando áreas de pastagens degradadas com árvores de várias espécies e pasto, visando a implantação de sistemas silvipastoris (Cerri, 1990; Uhl et al. 199; Pasto degradado…, 1993).
Nos sistema silvipastoris, é importante salientar que árvore, pela funções que desempenha deve ser o elemento estrutural básico do sistema. Dessa maneira, o componente arbóreo constitui importante fator de estabilização do solo, por conferir proteção contra ação direta das chuvas, do sol e da erosão pluvial e eólica, minimizando os danos causados pela lixiviação. Nesses sistemas a vegetação arbórea pode modificar o microclima, permitindo melhor ciclagem de nutrientes por processos naturais, por meio da matéria orgânica originada de plantas mortas e dos excrementos animais (Weawer, 1979 citado por Ribaski, 1987). Esse efeito de proteção do solo pelas árvores pode refletir no aumento da palatabilidade das pastagens (Baggio, 1983).
A densidade do povoamento florestal, no sistemas silvipastoris, é responsável pela maior ou menor produção de forragens e, consequentemente pela pressão de pastejo a ser exercida na área (Clary et al. 1975). A produtividade das pastagens neste sistemas dependem da quantidade de árvores por hectare, da altura, arquitetura e fonologia de cada espécie. As árvores a serem utilizadas num sistema silvipastoril devem ser, preferencialmente, de copas que permitam a passagem de luz para o crescimento das forrageiras. As pastagens tropicais do tipo metabólico C4, alcançam sua produção máxima com altos níveis de luminosidade.
A influencia das árvores sobre a produção das pastagens, considerando a intercessão da radiação solar, poderá reduzir a sua capacidade produtiva. No entanto, Karlin & Airsa (1982) relatam que a quando o componente arbóreo não é muito denso, permitindo que a radiação solar penetre pela copa até o solo, as gramíneas existentes sob esse dossel mantêm por mais tempo seus níveis de proteína e maior digestibilidade do que aquelas que estão fora da influência dessa cobertura vegetal.
Na Costa Rica, experiências silvipastoris mostram que produção de capim estrela associado com 320 árvores/ha de Leucaena leucocephala e Glricidia sepium, aumentou significativamente, além de, houve uma tendência de maior consumo de pasto pelos animais (Aviles, 1994). Durante a estação seca do trópico úmido, Magalhães et al. (1996) encontraram ganhos de peso satisfatórios em ovinos deslanados mantidos em Pueraria phaseoloides + gramíneas nativas sob plantio de diversos clones de seringueira (Hevea brasilensis).
Cameron et al. (1995), avaliando os efeitos do espaçamento de Eucaliptus grandis sobre pastagens de Setaria sphaceleta, concluíram que maior produção desta forrageira foi obtida numa cobertura arbórea de 20% ou 300 eucaliptus por hectare.
Na Colômbia, Giraldo et al. (1995) estudaram os efeitos de três densidades arbórea sobre a produção de biomassa de Panicum maximum durante o verão, ao final do experimento encontraram efeitos significativos da densidade baixa (7.629 kg MS/ha) em relação a média (3.783 kg MS/ha) e alta (3080 kg MS/ha). Tendência semelhantes foram observadas por Accirese et al. (1994) na Argentina em pastagens nativas e árvores de Populus deltoides.
Na Índia, Gowda et al. (1985) avaliando o comportamento do Pennisetum purpureum sob coqueirais, encontraram produções superiores a 14 t/ha/corte. No semi-árido australiano, em solos de baixa fertilidade, Christie (1975) relata que o cultivo de Cenchrus ciliaris, sob Eucalyptus populnea, possibilitou um incremento de matéria seca três vezes superior ao plantado entre as árvores.
Em Paragominas, Marques et al. (1991), testaram três gramineas (brizanta – Brachiaria brizantha, dictioneura – B. dictioneura e quicuio da amazônia – B. humidicola) em consórcios com espécies florestais (paricá – Schylizobium amazonycum, eucalipto – Eucalyptus tereticornis e tatajuba – Bagassa guianensis) recomendadas reflorestamento e encontraram valores médios de 3.567, 4.105 e 4268 kg/MS/ha, para as forrageiras consorciadas com paricá, tatajuba e eucalipto, respectivamente. Neste experimento, os melhores desempenho foram, respectivamente, eucalipto + brizantha (5.127 kg/MS/ha), paricá + dictioneura (5.071 kg/MS/ha) e tatajuba + dictioneura (5.071 kg/MS/ha). A forrageira que apresentou menor desempenho entre os consórcios foi o quicuio da amazônia, com produções de 1.413 a 2.744 kg/MS/ha.
Nos sistemas silvipastoris, bovinos tem propensão a danificarem as árvores, principalmente danificando a copa, roçando a cabeça contra o tronco ou comendo a casca. Também os animais aprendem a baixar a copa das árvores jovens para alimentarem-se. Schneider et al. (1978), reportam que o pastoreio continuo de bovinos em área de floresta, provoca acentuado desnudamento do solo e destrui as raízes superficiais, responsáveis pela absorção dos nutrientes, prejudicando o desenvolvimento das árvores. Em estudos realizados com Pinus sp., verificou-se que, para evitar danos árvores, o gado bovino não deve ser colocado antes que as plantas tenham três anos de idade ou 4 m de altura, no entanto ovelhas podem ser introduzidas mais cedo ou seja, com árvores com 2 m de altura.
Nos Estados Unidos, a associação de bovinos com Pinus elliotti, a partir dos dois anos de idade de plantação e na densidade de cinco animais por hectare, não afetaram significativamente a sobrevivência das plantas até os cinco anos de idade plantas (Perason & Whitaker, 1973). Num sistema silvipastoril adotado no Equador, o plantio de Eucaliptus globulus foi realizado em áreas destinadas ao pastoreio com ovelhas, as quais não danificaram as árvores, ajudando, ao contrário no controle das plantas daninhas e diminuindo a competição por água e nutrientes, bem como os riscos de incêndio na estação seca. Posteriormente, conforme as árvores vão crescendo, introduz-se nestas áreas o gado bovino (Lojan, 1979; citado por Couto et al. 1988).
Montoya et al. (1994), consideram que as espécies arbóreas para combinação com pastagem e bovídeos devem possuir as seguintes características: não ser tóxica e que não produza efeitos alelopáticos sobre a pastagem; terem silvicultura conhecida; serem adequadas às condições ecológicas e ambientais; de crescimento rápido, e preferencialmente, perinófilas; sejam resistentes a ventos; possam propiciar alimento para os animais; tenham capacidade de rebrote e de fixação de nitrogênio.
Desse modo, sistemas agroflorestais alternativos, que levem em consideração as peculiaridades dos recursos naturais da região, como a integração de árvores, forrageiras e animais, devem ser concebidos e testados de modo a tornar a atividade agropecuária mais produtiva, mais sustentável e menos danosa ecologicamente
Bibliografia:
Acciaresi, H.; Ansi, O.E.; Marlats, R.M. Sistemas silvopastoriles: effectos de la densidad arborea en la penetracion solar e produccion de forraje en rodales de alamo (Populus deltoides Marsh). Agroforestia en las Americas. (1): 7-9, Oct – Dic., 1994
Almeida, C.M.V.C.; Souza, V.F. de; Locatelli, M.; Costa, R.S.C.; Vieira, A.H.; Rodrigues, A.N.A.; Costa, J.N.M.; Ram, A.; Sá, C.P de; Veneziano, W.; Mello Junior, R. da S. Sistemas agroflorestais como alternativa auto-sustentável para o estado de Rondônia. I- Histórico, aspectos agronômicos e perspectivas de Mercado. Porto Velho, Planafloro/PNUD, 1995. 59 p.
Aviles, R.S. La ganaderia: Actividade destructora del medio ambiente? Agroforestia en las Americas. (1): 4-5 Julio e setiembre., 1994
Baggio A:J: Sinopse de algumas vantagens e desvantagens dos sistemas silvopastoris com Pinus Sp. Curitiba, EMBRAPA-URPFCS, 1983. 12 p.
Cameron, D.; Range, S.; Charles, D.; Jones, D. Arboles Y pastura: um estudio sobre los efectos del espaciamento. Agroforestia en las Américas (1):18-20, 1994.
Cerri, C. A idade da razão. Globo Rural, (48):43-73, 1990
Christie, E.K. A note on the significance of Eucaliptus populnea for buffel grass production in infertile semi-arid rangelands. tropical Grasslands, 9:243-6, 1975.
Clary, W.P.; Kruse, H.W.; Larson, F,R. Catle grazing and wood production witgh different basdal areas of Poderosa pine. Journal of Range Mangement, 28:434-7, 1975.
Coirini, R.O.; Costas, I.H.; Seia, E.O. Avaliação econômica de um sistema de produção silvipastoril no Chaco Seco, Provincia de Cordoba, Argentina. In. In. Encontro Brasileiro De Economia e Planejamento Florestal, .2., Curitiba. Anais… Colombo: EMBRAPA-CNPF, 1992. p. 385-94.
Couto, L.; Garcia R.; Barros, N.F. de; Gomes, J.M.; Santos, G.P.; Almeida, J.C.C. Redução do custo de reflorestamento no Vale do Rio Doce em Minas Gerais por meio da utilização de sistemas silvopastoris: gado bovino em eucaliptal a ser explorado. Belo Horizonte: EPAMIG, 28 p. (EPAMIG. Boletim Técnico26).
Dubois, J.C.; Viana, V.M.; Anderson, A.B. Manual Agroflorestal para Amazônia. Volume 1, Rebraf, 1996. 228p.
Giraldo, L.A.; Botero, J.; Saldarreaga, J.; David, P. Effecto de tres densidades de árboles en el potencial forrajero de un sistema silvopastoril natural, en la región Atlántica de Colombia. Agroforestia en las Americas. (2): 14-19, Oct – Dic., 1995.
Gowda, M.K.M.; Ktisnhamuty, K. ; Ventateshaiah, B.V. Possibilities of intercroping of grasses in coconut plantations of Kartanaka. Mysore J. Agri. Sci., V.19, n. 1, p.149-154, 1985.
Grelen, H. E. Forest grazing in the South. Journal of Range Management, 31(4): 244-9, 1978.
Guimarães Filho, C.; Soares, J.G.G.; Riche, G.R. Sistema caatinga-buffel-leucena para produção de bovinos. Petrolina-PE: EMBRAPA-CPATSA. 1995. 39p. (EMBRAPA-CAPATSA. Circular Técnica, 34).
Hernandez, R.S. Estudio ecológico, productivdad forrajera y uso ganadero de los terrenos forestales del ejido de Coalomulco, municipio de Huitzilac, estado de Morelos. Ciencia Florestal, n 10, vol 2, p 31-44, 1977.
Karlin, U.O.; Ayersa, R. O programa da algaroba na República Argentina. In: Simpósio Brasileiro sobre Algaroba, 1; Natal, RN., 1982. Anais… Natal, 1982. p. 146-97. (EMPARN, Documentos 7).
Kass, D.L. Agroforesteia en el Centro Agronômico Tropical de Investigacíon y Enseñaza (CATIE) . In. Memoria de la Reunion de La Red LatinoAmericana de Coop[eración Tecnica en Sistemas Agroflorestales y de Constituicion de LA Red Colombiana en el Tema, Bogotá, Anais… FAO. 1991, p.62-82.
Kosarik, J.C. Los sitemas agroflorestales de mayor uso en Argentina. Principales limitaciones y estratégias de promoción. In. Congresso Brasileiro Sobre Sistemas Agroflorestais, 1., 1994, Porto Velho. Anais. Colombo: EMBRAPA-CNPF, 1994. p 227-242.
Magalhães, J.A.; Costa, N. de ; Townsend, C.R.; Pereira, R.G. de A. Performance produtiva de ovinos deslanados mantidos sob seringal (período seco) In. Congresso Panamericano de Ciências Veterinárias, 08. Campo Grande, MS. Anais… Campo Grande, 1996 p. 371.
Marlats, R.M.; Denegri, G:; Ansin, O.E.; Lanfranco, J.W. Sistemas silvopastoriles: estimacion de beneficios directos comparados con monocultura en la Pampa onduladas, Argentina. Agroforestia en las Americas. (2): 20-25, Oct – Dic., 1995.
Marques, L.C.; Briensa Junior, S. Sistemas agroflorestais na Amazônia Oriental: aspectos técnicos e econômicos. In. Encontro Brasileiro de Economia e Planejamento Florestal, .2., Curitiba. Anais… Colombo: EMBRAPA-CNPF, 1992. p. 37-64.
Marques, L.C. Comportamento de três espécies florestais durante o estabelecimento de um sistema agrossilvopastoril no Município de Paragominas, Pará. In: Mesa Redonda sobre Recuperação de Slos através de Leguminosas, 1991.Trabalhos e Recomendações. Belém: EMBRAPA-CPATU/GTZ, 1992. pg. 33-42.
Montoya, L.J.; Medrado, M.J.S.; Maschio, L.M. de A. Aspectos de arborização de pastagens e de viabilidade técnica -econômica da alternativa silvipastoril. Seminário sobre Sistemas Agroflorestales na Região Sul, 1., Colombo. Anais… … Colombo: EMBRAPA-CNPF, 1994. p. 157-170.
Nunes, J.L.T.; Costa, A.J.M. Costa, J.S.P. Porcos em sistema agrossilvopastoril. In. Congresso Iinternaional de Medicina Veterinária em Língua Portuguesa, 6. Salvador, Ba. Anais… Salvador, 1993 p. 391.
PASTO DEGRADADO tem salvação. In: Guia Rural EMBRAPA, 1993. p.52-55
Perason, H.A.; WHITAKER, L.B. Returns from southern forest grazing. Journal of Range Mangement, 26(2):85-87, 1973.
Ribaski, J. Comportamento da algaroba (Prosopis juliflora) e do capim Buffel (Cenchrus ciliaris), em plantio consorciado na Região de Petrolina, PE. Viçosa, UFV Imprensa Universitária, 1987. 68p (Tese Mestrado).
Schneider, P.R.; Galvão, R.; Longhi, S.J. Influencia do pisoteio de bovinos em áreas florestais. Floresta, 9(1):19-23, 1978.
Severino, C.C. Estado actual de conocioementos de los sistemas agroflorestales en Chile. In: I Congresso Brasileiro sobre Sistemas Agroflorestais e I Encontro sobre Sistemas Agroflorestais nos Países do Mercosul. Anais… v.2, 1994, p.387-398
Uhl, C.; Nepstad, D., Silva; J.M.C.; Vieira, I. Restauração da floresta em pastagens degradas. Ciência Hoje. 13(76):23-31, 1991.
Veiga, J.B.; Serrão, E.A.S. Sistemas silvopastoris e produção nos trópicos úmidos: A experiência da Amazônia Brasileira. In: Sociedade Brasileira de Zootecnia, FEALQ, 1990, p.37-68 .
Zuberti, E. Actividades del Consejo Interncional de Investigacíon Aagroflorestal (ICRAF). In. Memoria de la Reunion de la Red Latinoamericana de Cooperacion Tecnica en Sistemas Agroflorestales y de Constituicion de la Red Colombiana en el Tema, Bogotá, Anais… FAO. 1991, p.60-62.
____________________________________________________________
1 Embrapa Meio Norte; 2 Embrapa Amapá; 3 Embrapa Rondônia
Fonte: João Avelar Magalhães (Embrapa Meio-Norte), Newton de Lucena Costa (Embrapa Amapá), Cláudio Ramalho Townsend (Embrapa Rondônia) e Arnaldo Bianchetti (Embrapa Amapá)