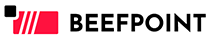Perdigão lucra 373% mais no semestre
10 de agosto de 2001Excelente artigo sobre o histórico de consumo de carnes pela espécie humana
10 de agosto de 2001Agronegócio à moda da casa
Até o início da década de cinqüenta, o Brasil era um país essencialmente agrícola. Aproximadamente 70% da população vivia no campo.
As grandes propriedades rurais de um modo geral se encarregavam de produzir para exportação – café, açúcar, carne bovina – enquanto que a agricultura de subsistência desenvolvida nas pequenas propriedades familiares gerava excedentes que abasteciam o reduzido mercado consumidor urbano. Neste ambiente a distância entre produtores e consumidores era relativamente pequena.
De um modo geral o agricultor se constituía numa entidade econômica independente, posto que não dependia e nem se vinculava com nenhum outro setor.
O produtor leiteiro, por exemplo, se encarregava de produzir, beneficiar (manteiga, queijo, creme), distribuir e comercializar a produção. Na maioria das vezes o contato produtor/consumidor era direto.
Segunda guerra mundial
O modelo de desenvolvimento econômico implantado no Brasil, a partir do final da 2ª Guerra Mundial e que priorizou a industrialização, deu a partida para um acentuado processo de urbanização que provocou uma profunda alteração no perfil urbano/rural.
Atualmente temos 25% da população vivendo no campo e 75% nas cidades.
Consolidou-se então o processo que persiste até hoje – um crescente esvaziamento populacional no meio rural e um acentuado crescimento da população urbana. Ou seja, diminuiu a mão de obra produtora de alimentos e aumentou o número de bocas consumidoras.
Tornou-se necessário aumentar a produção de alimentos, horizontalmente (incorporação de novas áreas de terra ao processo produtivo) e verticalmente (maior produtividade).
Para dar suporte ao necessário crescimento da produção, foram implantados sistemas de geração de tecnologia e extensão rural – data dessa época a criação da Embrapa, Emater , a multiplicação e interiorização das universidades brasileiras. Houve um enorme crescimento na produção e comercialização de insumos; criaram-se linhas de crédito rural subsidiado e consolidou-se o processo de acelerada mecanização agrícola.
Estabeleceu-se então o que hoje se considera o primeiro elo da cadeia agro-industrial, aquele que precede a produção propriamente dita, ou o setor antes da porteira.
O produtor rural, até então uma entidade econômica isolada, passou depender fortemente desse setor.
Armazenagem
Paralelamente, em função do forte crescimento da produção, tornou-se imprescindível a implantação de estruturas capazes de armazenar e beneficiar a produção.
Surgiram as agroindústrias (armazéns, engenhos, beneficiadoras, laticínios, frigoríficos, etc.) que vieram constituir um novo elo da cadeia – depois da porteira.
Para chegar ao mercado consumidor cada vez mais distante do meio rural, expandiu-se a rede de distribuição representada pelas mercearias, armazéns de secos e molhados, supermercados – estes hoje agrupados em grandes e poderosas redes. Mais um elo na cadeia agro-industrial.
Transferência do pepino
De um segmento isolado da economia, a agricultura passou a fazer parte de um complexo sistema interdependente que, já em 1957 os economistas americanos John Davis e Ray Goldberg, haviam denominado de agribusiness. Por agribusiness ou, numa versão forçada em português, cadeia agroindustrial, entenda-se a soma total das seguintes operações: produção e distribuição de insumos e de novas tecnologias agrícolas; a produção agropecuária propriamente dita; armazenamento, transporte, processamento e distribuição dos produtos da terra e de seus derivados.
Nesta ótica, a produção de alimentos não pode ou não deve mais ser analisada individualmente, na medida em que seus resultados econômicos são fortemente influenciados pelo desempenho dos outros segmentos que precedem ou sucedem o ato produtivo. Este princípio também é válido para os outros segmentos que constituem uma cadeia agro-industrial, posto que existe uma rigorosa interdependência de resultados.
Mas, infelizmente em nosso país, por questões culturais, temos uma enorme dificuldade de enxergarmos o todo. Embora elos de uma mesma corrente, continuamos individualistas – cada um puxando mais brasas para o seu próprio assado. Os outros que “se danem”!
De certo modo, modificamos a receita original do agronegócio. Retiramos “temperos” indispensáveis tais como, respeito intersetorial, seriedade, capacidade de compartilhar problemas e buscar soluções em conjunto, entendimento mútuo e fixação de objetivos comuns.
Como substitutos colocamos, corporativismo, malandragens, espertezas e oportunismo.
Uma espécie de agronegócios à moda da casa. Vejamos o comportamento da cadeia agroindustrial do leite, onde a política dominante é a do TP – Transferência do Pepino.
Antes da porteira – insumos e serviços
A baixa qualidade dos insumos já foi objeto de análise em artigo anterior no Informativo A Nata do Leite, editado pela Scot Consultoria. Mas isto não preocupa os proprietários das lojas agroveterinárias.
O que interessa é vender produtos que deixem maior margem de lucro. Se vão resolver ou não os problemas do produtor, isto é irrelevante.
Nessa visão caolha, ignoram que quanto mais forte for o setor de produção, maior será o consumo de medicamentos, minerais, rações concentradas, etc..
Os serviços de assistência técnica, muitas vezes vinculados às vendas, nem sequer avaliam o desempenho econômico das atividades assistidas.
Centro da porteira – produção propriamente dita
Os produtores costumam não enxergar nada além da porteira da propriedade.
Fixam-se apenas no preço do leite, por exemplo.
Questões relativas à qualidade e escala, distribuição da produção ao longo do ano, comportamento e tendências do mercado são problemas da indústria.
Outro dia ouvi de um presidente de sindicato rural esta “pérola” de interpretação dos fatos – “a indústria não pode pagar R$ 0,32 para uns produtores e R$ 0,24 para outros – afinal leite é leite e todos têm que receber o mesmo preço”. (O mais alto,é claro!).
Há pouco mais de 3 anos o mercado gaúcho foi inundado com leite uruguaio e argentino. Os preços internos despencaram. Imediatamente foi desencadeada uma intensa mobilização de produtores, que culminou com a invasão das principais indústrias de laticínios do estado. As lideranças desse movimento ignoraram que naquele momento o inimigo era a indústria estrangeira.
Ao enfraquecerem a indústria nacional com ameaças de greves ou boicotes, estavam favorecendo a indústria uruguaia e argentina que não compram um litro de leite de produtores brasileiros.
Depois da porteira
A indústria láctea brasileira é viciada em transferir seus problemas para os produtores.
Diante da menor ameaça de redução de suas margens de lucro, imediatamente baixa o preço pago pela matéria prima. Parceria entre indústria e produtores não existe.
Imaginem que o produtor entrega leite durante 30 dias e só vai saber o preço pago pelo seu produto no momento em que receber a nota de pagamento.
Indústrias que coletam leite na mesma região, ao invés de estabelecerem uma saudável concorrência que beneficiaria os produtores, preferem sentar-se à mesa e ajustarem preços e procedimentos de tal modo que os produtores ficam sem opções. Já os distribuidores, especialmente as grandes redes de supermercados, costumam ficar com a “parte do leão”. Não abrem mão de suas generosas margens. Os demais elos da cadeia que se ajustem às suas determinações.
Cultivar racionalmente as cabeças
Ouvi de um eminente professor da McGill University, do Canadá, “que por suas condições de clima e de solo, que permitem a exploração agrícola durante os 12 meses do ano, com custos de produção relativamente baixos, o Brasil deverá se transformar num dos maiores exportadores de alimentos nas próximas décadas”. Concordo plenamente, desde que além de cultivarmos racionalmente a terra, passemos também a cultivar em nossas cabeças valores éticos e morais que andam escassos em nosso meio.
Literatura Consultada
Ney Bittencourt de Araújo – ABAG – maio 1993

E-mail: otaliz.iju@zaz.com.br