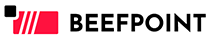A importância da gestão do fluxo de caixa
30 de junho de 2000Índices de produtividade da pecuária de corte no Brasil. Parte 3/3
14 de julho de 2000Utilização da cama de frango na alimentação de bovinos – Parte 2/3
Paulo Roberto Leme1 e Celso Boin2
Na primeira parte deste artigo foram discutidos a composição química e o valor nutritivo da cama de frango. Nessa segunda parte serão discutidos aspectos ligados ao processamento e à segurança de seu uso quanto à saúde animal e humana
1. Processamento da cama de frango para uso como alimento para bovinos
Diversos tipos de processamentos têm sido usados para deixar a cama de frango livre de microorganismos potencialmente perigosos à saúde animal e humana. Entre eles o calor seco, o calor úmido, fumigações com óxido de etileno ou brometo de metila, confecção de silagem, etc. Com o armazenamento na forma de montes ou pilhas há aumento da temperatura devido à fermentação. Fontenot et al., 1971, verificaram que a cama foi esterilizada após 4 horas a 100 ou 150o C. Mas, todo processamento causa alteração no valor nutritivo desse material como alimento. Neste caso houve diminuição do teor de PB de 42,5 para 34,4%. A acidificação com formaldeído, por outro lado, reduziu a perda de nitrogênio. Por outro lado, Brugman et al., 1967, não verificaram alterações na composição química da cama submetida a 135o C por 11 horas, mas sim na digestibilidade da PB em 7,6%.
Em estudo bastante amplo e recente, Bakshi e Fontenot, 1998, usaram a cama de frango empilhada com 30 ou 40% de umidade ou ainda ensilada com 40% de umidade. As três formas eliminaram os patógenos e permitiram que fosse incluída na dieta de bovinos sem afetar adversamente a digestibilidade e a eficiência de utilização do nitrogênio da dieta.
Ashbell, Weinberg e Hen, 1995, verificaram que a mistura de cama de fango com casca de laranja, melaço, batata e água, em várias proporções, poderia ser conservada na forma de silagem, necessitando para isso 40% de umidade para uma fermentação adequada e que a cama não excedesse 50% da mistura. A conservação na forma de silagem de cama com sorgo também foi efetiva na eliminação de patógenos, segundo Al-Rokayan, Naseer e Chaudry, 1998. Os resultados indicaram que o uso da cama até 35% da dieta de ruminantes não teve nenhum efeito adverso na saúde dos animais.
Chaudry, Fontenot e Naseer, 1998, também estudaram o empilhamento ou a confecção de silagem da cama. O empilhamento não afetou a composição e ambos os métodos foram efetivos na eliminação de todos os patógenos. Segundo Rude, Rankins e Dozier, 1994, a cama necessita processamento para eliminação de patógenos e a cobertura da pilha com plástico transparente impediu uma elevação excessiva da temperatura e melhorou a digestibilidade da proteína.
2. Aspectos ligados à saúde animal e humana
Segundo Bhattacharya e Taylor, 1975, há risco de transmissão de algumas doenças ao homem através do uso da cama de frango como alimento para bovinos. Os autores observam que as aves são potenciais portadoras de diversos patógenos humanos como o vírus de newclastle e clamidia ou psitacosis que causam, respectivamente, conjuntivite e pneumonia em humanos, assim como os agentes da erisipela e da listeriose. Também o Mycobacterium avium, que ocasionalmente produz a tuberculose humana ou causa sensibilidade à tuberculina sem a doença, e outras doenças. Aves domesticas são o principal reservatório de salmonelas.
Existe também o risco para a saúde do animal que consome esse tipo de alimento, pois além dos microorganismos ele pode conter mais de 20 tipos de drogas e antibióticos usados nas rações de frangos. A presença de arseniacais, antibióticos, sulfonamidas, coccidiostáticos, nitrofurans e outros, resultam em resíduos na cama.
Jeffrey et al., 1998, estudaram a prevalência de patógenos Salmonela, E. coli 0157, E. coli e Campilobacter na cama de frango usada na alimentação de gado leiteiro na Califórnia. Os resultados indicaram que esse alimento da forma como foi processado pode ser usado sem grandes preocupações de contaminação do gado com esses microorganismos. Também McCaskey et al., 1997, verificaram que a cama conservada na forma de silagem misturada ao milho grão com 40% de umidade eliminou efetivamente os patógenos potenciais.
No Brasil, Schocken-Iturrino et al., 1996, estudaram o efeito do armazenamento em pilhas por 0 a 42 dias na cama de frango com casca de arroz e verificaram um decréscimo no número total de bactérias com a estocagem por 14 dias seguido de aumento desse número. Os autores verificaram a existência de bactérias patogênicas da família das enterobactérias (Escherichia coli, Proteus, arizona, Providencia, Edwardsiella) e também Staphylococcus aureus, S. epidermidis, além de diversas espécies de Clostridium, como C. perfringens, C. sordelli, C. chauvoei, C. tetani e C. novyi (o C. botulinum não foi isolado), e alguma cepas de Corynebacterium pyogenes. Em outro trabalho, Schocken-Iturrino e Ávila, 1991, observaram a ocorrência de intoxicação e morte de bovinos confinados com dieta contendo cama de frango contaminada com a toxina botulínica. Mais recentemente, na África do Sul, Huchzermeyer, 1996, relatou a ocorrência de botulismo em carneiros alimentados com cama de frango. O autor alerta também para o risco de resíduos do ionóforo maduramicina, que pode causar cardiopatia em ruminantes. Também na África do Sul, Fourie et al., 1991, e Bastianello et al., 1995, verificaram a ocorrência de óbitos de bovinos e ovinos que receberam na dieta cama de frango de aves cujo alimento continha maduramicina.
No Brasil, Jorge et al., 1997, verificaram que o acumulo de fezes e umidade na cama teve maior efeito na população de coliformes do que o tipo de cama (casca de café, palha de arroz, palha de feijão e bagaço de cana). Tobias, 1997, também estudou o armazenamento de cama de vários materiais absorventes, e constatou a eliminação microorganismos patogênicos da cama umedecida e coberta por lona plástica após 10 dias, exceto quanto ao gênero Bacillus. Essa forma de tratamento, elevou a temperatura acima de 55o C durante os 10 dias, o que seria suficiente para eliminar a maioria dos patógenos potenciais, mas causando alguma perda de nitrogênio. Em contrapartida, esse processo de fermentação melhoraria a aceitabilidade da cama pelos ruminantes. Silanikove e Tiomkin,1992, em Israel, constataram um severo dano ao fígado de vacas alimentadas com elevada quantidade de cama na dieta, chegando a causar 10 a 20% de mortes nos rebanhos quando o consumo de cama excedeu 10 kg/animal/dia.
Entretanto, o fornecimento de grande quantidade de cama na dieta de ruminantes não é comum e, segundo Bakshi e Fontenot, 1998, o armazenamento em pilhas com 30 ou 40% de umidade ou na forma de silagem com 40% de umidade, livra a cama de microorganismos patogênicos permitindo que ela seja incorporada à dieta de ruminantes sem afetar adversamente a digestibilidade ou a eficiência de utilização de nitrogênio, conforme observado anteriormente.
Outro problema que pode ser causado pelo fornecimento da cama de frango na alimentação de ruminantes está relacionado ao excesso de alguns minerais. Kunkle et al., 1981, verificaram um aumento de até cinco vezes nos níveis de cobre, arsênio e selênio da cama em relação aos níveis da ração das aves. Foram relatados casos de intoxicação e morte de ovinos devido ao excesso de cobre, mas os bovinos em geral são mais tolerantes. É preciso contudo avaliar cada mineral no balanceamento de dietas para ruminantes e, se necessário, limitar a participação da cama na dieta de forma que esses minerais fiquem dentro da faixa recomendada para cada categoria e espécie.
REFERÊNCIAS:
AL-ROKAYAN, S.A., NASEER, Z., CHAUDRY, S.M. – Anim. Feed Sci. Tech., 75(1):65-73, 1998.
ASHBELL, G., WEINBERG, Z.G., HEN, Y. – Anim. Feed Sci. Tech., 52:271-278, 1995.
BAKSHI, M.P.S., FONTENOT, J.P. – Anim. Feed Sci. Tech., 74(4):337-345, 1998.
BASTIANELLO, S.S., FOURIE, N., PROZESKY, L., NEL, P.W., KELLERMANN, T.S. – J. Vet. res., 62:5-18, 1995.
BHATTACHARYA, A.N., TAYLOR, J.C. J. – Anim. Sci., 41(5):1438-1457, 1975.
BRUGMAN, L.J., DICKEY, H.C., PLUMMER, B.E., POULTON, B,R. – J. Anim. Sci., 26:915, 1967. (abstr.).
CHAUDHRY, S.M., FONTENOT, J.P., NASEER, Z. – Anim. Feed Sci. Tech., 74(2):155-167, 1998.
FONTENOT, J.P., WEB JR., K.E., HARMON, B.W., TUCKER, R.E., MOORE, W.E.C. – Proc. Int. Symp. On Livestock Wastes, A.S.A.E., 271:301-304, 1971.
FOURIE, N., BASTIANELLO, S.S., PROZESKI, L., NEL, P.W., KELLERMANN, T.S. – J. Vet. Res., 58:291-296, 1991.
HUCHZERMEYER, F.W. – J. S. Afr. Vet. Ass., 67(1):2-7, 1996.
JEFFREY, J.S., KIRK, J.H., ATWILL, E.R., CULLOR, J.S. – Poultry Science, 77:808-811, 1998.
JORGE, M.A., MOUCHREK, E., CARNEIRO, M.I.F., MARTINS, N.R.S., RESENDE, J.S. – Arq. Bras. Med. Vet. Zoot., 49(5):523-530, 1997.
KUNKLE, W.E., CARR, L.E., CARTER, T.A., BOSSARD, E.H. – Poultry Science, 60:1160-1164, 1981.
McCASKEY, T.A., SANDHU, K.S., DAS, A.M., STEPHENSON, A.H. – Ind. J. Anim. Sci., 67(6):540-541, 1997.
RUDE, B.J., RANKINS JR., D.L., DOZIER III, W.A. – Anim. Prod., 58:95-101, 1994.
SILANIKOVE, N. & TIOMKIN, D. – Anim. Prod., 54:203-209, 1992.
SCHOCKEN-ITURRINO, R.P., ÁVILA, F.A. – Arq. Bras. Med. Vet. Zoot., 43:279-280, 1991.
SCHOCKEN-ITURRINO, R.P., SAMPAIO, A.A.M., SAMPAIO, M.A.P.M., BERCHIERI JR., A., BERCHIELLI, S.C.P. – Arq. Bras. Med. Vet. Zoot., 48(4):435-443, 1996.
__________________________________________________________
1. Prof. Dr., FZEA/USP
2. Eng. Agr., PhD, Prof. Convidado, ESALQ/USP, Consultor